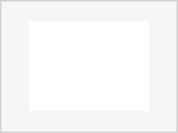Estar na semiperiferia e o papel disso no racismo
Estar na semiperiferia e o papel disso no racismo

O peso que está a assumir a propaganda de banalização e negação do racismo, lado a lado com o crescendo da brutalidade policial contra afrodescendentes envolta em fake news e outros truques de manipulação mediática pode parecer um aspeto de importância relativamente baixa no trabalho geral da dominação de classe pela burguesia. Longe disso, esse trabalho é a consequência natural de uma aposta estratégica de grande fôlego que os capitalistas portugueses fizeram há já várias décadas, e sem a qual a sua subsistência como classe dominante enfrentaria sérias dificuldades.
Quando a dominação das colónias se tornou impossível e a sua independência se tornou inevitável em 1974/75, a burguesia teve de readequar a sua posição na divisão internacional do trabalho de forma a sobreviver essa perda de espaços coloniais. A solução encontrada foi a entrada para a então CEE, hoje UE, cujo fito é pôr em comum os meios e os proveitos da exploração neocolonial do Sul global. Incapaz de manter o seu próprio espaço colonial, o Estado português ofereceu os seus préstimos a Estados com mais competência nessa asquerosa tarefa, aceitando como contrapartida empenhar tropas nas missões «de paz» que asseguram o bom andamento do saque nessas paragens (e por isso temos tido tropas na Mauritânia, na República Centro-Africana, no Mali, no Líbano, no Iraque, etc.), e desmantelar, em território português, o aparelho industrial e agrícola que porventura lhe poderia permitir, um dia, dispor de meios para se lançar nessas iniciativas de pilhagem colonial sem depender do centro.
Chamou-se a essa entrada para a UE «adesão ao projecto europeu», e essa designação é tudo menos geográfica. Menos ainda para um país com as condições económicas portuguesas. País semiperiférico, demasiado pobre para ser central no bloco imperialista e aliás com relações de fortes dependência e subordinação política em relação a eles, mas ainda assim suficientemente rico e envaidecido pelo passado colonial multissecular para falar arrogantemente de (e sobretudo com) povos da periferia capitalista, a classe dominante portuguesa age como o trabalhador que prefere considerar-se branco como o seu patrão, em vez de explorado como o seu colega. Mais ainda, consegue transmitir aos elementos dominados da sociedade que devem aceitar este Estado na medida em que ele lhes assegura a pertença aos países ricos e europeus, com o acesso inerente às migalhas do saque dos povos neocolonizados, travestidas de «fundos comunitários».
Por isso é tão virulento e recebe uma caução social tão grande quer o desdém quer a agressividade para com populações tidas como exteriores à nação portuguesa e aos povos europeus. País cuja identidade nacional se constrói na saga da reconquista os mouros e depois na expansão colonial, os seus elementos de base são, no uso público da história, os brancos cristãos. Os demais, mesmo que sejam tecnicamente aceites como membro da nação portuguesa em termos administrativos, não recebem reconhecimento como portugueses à luz da noção de portugueses que é construída nas aulas de História. E nessa medida, querendo viver cá, que seja segundo as «nossas» regras, ou que voltem para a terra «deles». Circunstância em que não há racismo: a imprensa esmera-se há anos a provar que o racismo não existe.
Pertencer e beneficiar do projecto europeu é portanto aderir um ocidentalismo hegemónico, esperar pelos proveitos da UE, e esperar que, como nos anos da troika, o centro do capitalismo europeu não precise de nos esmifrar como precisa de esmifrar o Benim. De modo que a intenção de romper com o racismo é inseparável de um combate que será anti-nacionalista, anti-imperialista, e anticapitalista. Cumprirá entender que todos estes sistemas de segregação de trabalhadores têm como objetivo facilitar a divisão entre eles, a desumanização de parte deles, cujos povos passa a ser lícito bombardear, ou cujos elementos passa a ser normal fazer trabalhar 16 horas e dormir na loja. Que o faz alimentando e reforçando exclusões da comunidade nacional. Que insere essa comunidade numa hierarquia de nações, cuja raiz fundamental é o lugar na divisão internacional do trabalho, onde os países imperialistas mais fortes estão no topo.
A nossa luta, para ser consequente, não pode escamotear estes elementos do racismo. Ele correrá sempre o risco de reaparecer num mundo onde o ocidentalismo hegemónico se vende diariamente, onde o imperialismo em tudo se vê legitimado, onde não se liquidaram bandeiras e fronteiras. Se estes aspetos da luta anticapitalista não forem considerados em simultâneo, a tragédia da reação galopante e da esquerda não sabe como deter será imparável.
João Vilela
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter