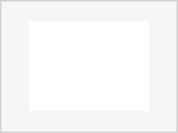Os anos loucos da ditadura
Se nos permitem uma generalização, diremos que as narrativas relacionadas à ditadura no Brasil têm sido de quatro gêneros: as dos heróicos militantes de esquerda, todos bons e virtuosos, porque de esquerda, como as do romance da fase comunista de Jorge Amado; as autobiográficas, ainda mais heróicas, porque o autor, no centro dos acontecimentos, insinua que o fato político não existiria se o protagonista-autor não existisse, como as de Fernando Gabeira; as das covardias e grandezas na formação de jovens militantes, aos encontrões na angústia da repressão; e as de uma variante desse último gênero, as de jovens que sofreram aquele período maldito, eles próprios malditos, porque marginalizados estavam até dos grupos de esquerda.
E se cabe uma simplificação, diremos que o livro Universo Baldio, de Nei Duclós, se encontra entre as narrativas do quarto gênero. O que é, de imediato, uma diferença. Assim dizemos porque nele há coisas por vezes esquecidas por autores e leitores de todos os gêneros. Uma delas é que para falar de gente mergulhada num universo político é preciso falar de gente de cara e dente: gente que caga, que mija, que fode, que ama e fracassa. Gente política é como toda a gente, tão boa ou ruim quão todo o mundo. No Brasil, nem mesmo bons autores conseguem escapar dessa inobservância. Em Quarup, Antonio Calado narra um personagem que, ao aderir à luta revolucionária, ganha de brinde a vitória sobre a ejaculação precoce. Se nos permitem uma paráfrase, diríamos que em Universo Baldio os jovens não venceriam a ejaculação precoce, mas poderiam a ela se referir, em uma sessão de fumo: “está tudo certo, tudo bem, meu irmão”.
Em lugar de personagens épicos, temos nesse livro jovens provincianos à procura de um caminho, “qual? isso existe?”, parecem perguntar. E daí vem uma outra coisa: a literatura referente a um período de ditadura, a um tempo de guerra, não remete só e somente à humanidade que pegou em armas. Ou dito de outra maneira: há várias maneiras de se empunhar um fuzil, uma delas é narrar o que resta na sua falta. Aqui e ali, há referências em suas páginas ao filme Deus e o Diabo na terra do sol, de Glauber Rocha. (E lamentamos, nenhuma à excelente música de Sérgio Ricardo, e ao espetacular refrão, “te entrega, Corisco!...”.) Até que se atinja a segunda parte, onde em lugar dos bichos loucos da primeira parte assoma um fantasma, como numa “viagem” de ácido. Bons capítulos trazem essa aparição.
Dissemos bons capítulos da segunda parte, e isso nos impõe uma reflexão. Os personagens da primeira parte, os bichos loucos daqueles anos, na impossibilidade de se resolverem nas viagens que o ácido dá, terminam por viajar “na real”, terminam por sair de um paraíso perdido em Santa Catarina, e assim, partindo, vão esvaziando a cena.
“Mas ao cruzar a ponte Hercílio Luz, submersa numa neblina de filmes de terror, agarrou-se a Irma. Sentia medo de partir de novo para o desconhecido, sem dinheiro, sem roupa, sem emprego. Seus imensos olhos perguntavam: ‘Será que vai dar tudo certo?’ O ônibus desapareceu rapidamente na neblina, saiu da ilha de Santa Catarina e penetrou desvairado no continente”.
Isto é uma necessária passagem para a segunda parte. O mal do leitor exigente é desejar por vezes a cirurgia, o abstrair o filé do boi. Certo, poderia ser dito: o que é necessário para a construção de uma obra não deveria aparecer aos olhos do leitor. Nem a base do iceberg deve aparecer, como lembrava Hemingway, nem os vaivéns da linha do cerzido, como falaria um alfaiate. Ou como diriam palavras do antigo latim, a melhor arte esconde a sua arte. Sim, mas sem a primeira parte, o que ficaria de Universo Baldio? Uma segunda parte bem narrada em meia dúzia de capítulos, sem que se entendesse de onde vinham, e, o que é mais grave, sem a necessária localização do narrador.
É uma sorte para o leitor que um poeta haja passado por aquela casa na praia, de jovens marginalizados. Se assim não fosse, não teríamos relatos que beiram o cômico:
“O do cooper chamou Irma e perguntou à meia voz: - Ele está muito pirado? Irma viu um olho roxo na testa do que fazia cooper ... Irma foi até o banheiro e abriu a torneira. Ficou uns vinte minutos observando a água em todas as suas cores e formas. Quando levantou a cabeça viu o rosto de Luís, desfigurado. A face direita estava repuxada até o alto da cabeça. Luís observava os cabelos de Irma. - Tá fazendo o quê com a água? Irma assustou-se: - Estou há muito tempo aqui? Luís tomou o seu pulso: - Vamos ver as batidas. Uma voz gritou da cozinha: - O chá está pronto! Alípio chegou voando: - É meu, é meu, é tudo meu!...
O visitante olhava através dos grossos óculos: - Vocês estão querendo provar o quê?”.
É esse poeta que aparece mais livre do factual na segunda parte. Ele se concentra na linha do narrado como se fosse um verso de um poema, como nesta frase, que nos atinge sem tempo para levantarmos escudo: “Um dia reencontraria o amor que ficou perdido numa baldeação em Cacequi”. Esse poeta se acha também em títulos que suspendem a leitura, como Caçada de Capincho, (de capivara), e mais particularmente, Lembrança de Saias. (Gostaríamos muito, um dia, de furtar, roubar e assaltar esse título para uma crônica sobre a miséria e a felicidade de saias em Água Fria.) Belo, não é? Ele aparece ainda em títulos que parecem querer saltar da narração, como em
“Foi o momento principal da sua infância. Sua vida resumia-se a esse momento e a outro, quando viu o pai pela última vez e ele lhe deu o único abraço em toda uma vida”. Título: o abraço que nunca recebi do meu pai.
E aí, se nos permitem ir mais longe, diríamos que atravessa o livro um verso de Bandeira, como um cerzido que não se vê, “a vida inteira que podia ter sido e que não foi”. Ou mais precisamente: há um drama subjacente que fura a primeira parte e ronda como um espectro o próprio fantasma da segunda, a saber: a impossibilidade da livre escolha, a impossibilidade de ser jovem, hippie, no Brasil daqueles anos, num mundo que não deixava a ninguém essa opção. Era pegar a estrada, se foder ou morrer.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter