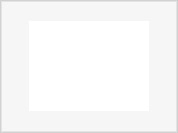O buraco é mais embaixo, governador
Meu grande amigo Saul Leblon saiu de férias. Foi visitar a República de San Marino (a menor do mundo, encravada nos Apeninos italianos) para ver in loco o que é, de verdade, um estado mínimo, não essa fajutaria que o neoliberalismo impingiu às nações emergentes. Agora voltou, afiado como nunca.
Flávio Aguiar
A consciência de uma época progride aos saltos, freqüentemente é impulsionada por sínteses inesperadas que emprestam um olho mágico à sociedade permitindo-lhe enxergar melhor a própria história.
Não por acaso Lênin dizia que política é economia concentrada. Às vezes uma simples frase ou o gesto simbólico de um líder deflagra o estalo de Vieira no imaginário coletivo. Desvenda-se a intrincada trama que os especialistas se esmeram em ocultar.
Em março de 1930, Gandhi iniciou a Marcha do Sal atravessando 385 quilômetros ao sul da Índia em direção à costa. Por onde passava era saudado por legiões de camponeses que engrossavam as fileiras de sua comitiva. Ao chegar no oceano seguido por milhares de pessoas, Gandhi inclinou-se apanhou um pouco de sal depositado na areia e implodiu o monopólio inglês sobre a mercadoria. O monopólio britânico do comércio do sal determinava que a venda e produção da mercadoria por qualquer um, exceto o governo britânico, era crime. Com seu gesto de desobediência civil Gandhi evidenciou, para milhões de indianos, o absurdo que era continuar respeitando uma norma tão injusta.
Acontecimentos simbólicos como esse desarticulam diferentes variáveis que sustentam a relação de forças de uma época ajudando a modificá-la. O cerne de desafios até então obscurecidos pela rede de dissimulações mantida graças a quantidades industriais de saliva, porrete e papel de imprensa, escancara-se expondo toda podridão do status quo.
Quando a perplexidade e o luto pelas vítimas concluir seu ciclo, o buraco que se abriu nas obras do metrô em São Paulo poderá servir como um desses mirantes para enxergar melhor a rede de aço invisível que engessa os destinos do país, mencionada en passant pelo Presidente Lula no discurso de posse, dia 1 de janeiro.
A lógica que emerge da cratera é tão assustadora e ardilosa quanto ela. Seu nome é Estado Mínimo. O sobrenome, para fins de licitação de obras públicas, é turn key (vire a chave), que no caso significa repassar à iniciativa privada todos os estágios de um de um acerto contratual baseado no tripé projeto/preço/prazo.
No caso da Linha 4 do Metrô, o modelo foi imposto pelo principal financiador da obra, o indefectível Banco Mundial, a mais importante usina de difusão, treinamento e reeducação neoliberal em ação no planeta. Dinheiro na verdade não é a especialidade dessa instituição. O crédito oferecido pelo banco funciona apenas como isca para enredar países, governos, técnicos e burocracias públicas bem como algumas ONGs na obra jesuítica de satanizar o Estado, catequizar e remodelar os aparatos públicos, os corações e mentes das elites e tecnocracias nativas, adestrando-os nas excelências do mercado e da neutra sociedade civil.
No Brasil o Banco Mundial implantou uma bem urdida hegemonia no modo de pensar de várias esferas do setor público. Dentro do Ipea, por exemplo outrora uma usina de estudo e planejamento público, hoje reduzido, em grande parte, a uma caixa de ressonância dos mercados, formou-se uma tropa de choque de aplicados discípulos que funcionam como correia de transmissão do pensamento do Banco Mundial. São eles que tratam de tropicalizar os ditames da instituição empanturrando governo e colunistas obsequiosos com inesgotáveis pesquisas e estudos de recorte liberal-ortodoxo. Nesses papers volumosos apregoa-se, por exemplo, as virtudes da reforma da Previdência que pretende jogar os velhinhos, especialmente os do campo, ao relento, bem como o focalismo das políticas sociais, mantras que o Banco Mundial advoga como estratégias adequadas à economia recursos públicos, em substituição aos direitos universais do Estado de Bem-Estar Social.
O turn key é uma tecnologia de ponta desse arsenal. Uma etapa superior do pritivatismo que condensa num único contrato todos os pressupostos que o neoliberalismo preconiza para a reforma do Estado na periferia do capitalismo. O repertório, como se sabe, teve (e tem) enorme receptividade entre o tucanato e os endinheirados nativos que não hesitaram em enfiá-lo goela abaixo dos brasileiros na década de 90, e ameaça prosseguir entre setores mais afoitos do petismo que vão nessa direção. As conseqüências são conhecidas. A saber, asfixia do setor público, estagnação econômica e inoperância do Estado, incapaz de assegurar serviços essenciais requeridos pela sociedade, tais como segurança, saneamento, educação de qualidade, atendimento condizente de saúde e garantia de velhice digna.
Empreendimentos regidos pela lógica do turn key não são fiscalizados pelo poder público (leia-se, pela sociedade), mas pelos próprios vencedores da licitação. É obra tipo porteira fechada. O governo compra o pacote e o Estado abdica até da prerrogativa de gerir o delicado equilíbrio entre custo/lucro/segurança pública. Supõe-se nesses contratos que entre o interesse público e o recheio do próprio bolso as empreiteiras não hesitarão em perfilar ao lado do povo. Fala sério.
É cedo para deslindar as alavancas obscuras que movimentaram tragicamente milhões de toneladas de terra na outrora pacata rua Capri, em São Paulo. Mas desde já causa certa indisposição a falta de pejo do governador tucano José Serra. Na tentativa de salvar a pele do seu palanque estadual para a Presidência, o tucano exime-se de qualquer responsabilidade reiterando justamente a lógica que pode estar na origem da tragédia: A obra é de responsabilidade da construtora, inclusive a segurança dela (da obra), repete catatônico para a mídia obsequiosa.
O buraco, governador, é mais embaixo. E justamente aí reside o problema.
Tucanos dedicaram toda década de 90 (o PSDB governa São Paulo há 12 anos e governou o Brasil por 8) a depreciar a competência do planejamento público em nome da eficiência dos mercados. Privatizaram, pintaram e bordaram. Desidrataram até o osso a capacidade de investimento e de intervenção do Estado brasileiro na economia. Um correlato do turn key em escala federal foram as festejadas Agências Reguladoras. Encarregadas de fiscalizar serviços privatizados, acabaram satelitizadas sob a órbita de novos monopólios criados em substituição a estatais sufocadas pela interdição de investimentos, a proibição de contrair empréstimos e de reajustar tarifas, portanto, de se modernizarem para servir ao público.
Deliberadamente engessadas assim, foram levadas ao paredão do descrédito público pelas mãos do tucanato. Exceto a Petrobrás que por isso mesmo figura como um testemunho de eficiência incômoda para a turma de bico longo todo investimento estatal no Brasil passou a ser contabilizado como gasto pela aritmética ortodoxa do reinado FHC, monitorada capilarmente pelo FMI e Banco Mundial.
A prioridade era outra: desviar recursos orçamentários e contingenciar projetos para engordar o superávit primário e pagar os juros siderais da dívida pública. Graças a esse absurdo estratégico, a Eletrobrás, por exemplo que deveria ser a Petrobrás do setor elétrico, tornou-se uma das principais geradoras de superávit primário no país, quando deveria ser uma geradora de energia. O resultado é que a economia tomou um apagão em 2001 e arrisca-se a levar outro no segundo mandato de Lula, caso o governo não mude radicalmente as regras do superávit em benefício dos investimentos das estatais e da União.
Em 2003, pouco depois da posse, Lula fez uma declaração que gerou frisson entre neoliberais urbi et orbi. Irritado com o engodo das agências reguladoras, o recém-chegado Presidente desabafou: "O Brasil foi terceirizado. A sensação era legítima. FHC, assessorado pelo FMI e o Banco Mundial, transformara o Estado numa espécie de ONG, uma organização na verdade não governamental à qual escapavam decisões estratégicas que afetam o presente e o futuro da sociedade.
A lucidez do então recém-eleito não resistiu ao jogo pesado do primeiro mandato. O que figurava como uma distorção suicida aos olhos do Presidente transformou-se aos poucos em dogma fazendário. Acanhou-se de tal forma a percepção da responsabilidade coordenadora do Estado no núcleo econômico do governo que gerou um aleijão conceitual. O sacrifício virou virtude irradiando-se a lógica paralisante da ortodoxia por diferentes esferas públicas, num processo de colonização mental que contaminou a própria direção do PT e só foi interrompido com a queda do ministro da Fazenda Antonio Palocci, no final do primeiro mandato.
O turn key é filho pródigo desse condomínio de interesses, renúncias, traições e espertezas que submete o Estado brasileiro há mais de duas décadas à hegemonia absoluta dos mercados. Não por acaso o período coincide com a estagnação do crescimento. O buraco na rua Capri pode ter várias explicações geológicas.
Mas a base ideológica do desastre remete a esse conluio de forças que satanizaram o planejamento público no país, promoveram a corrosão dos valores compartilhados de bem-estar coletivo e descartaram a lógica da solidariedade taxando-os como anacronismos incompatíveis com a nova eficiência requerida pelos circuitos globalizados da riqueza e do poder. Quem liderou isso no Brasil com requintes de cinismo e pouco caso pelos adversários caipiras e jurássicos não foi o consórcio da Via Amarela, senhor governador. Foi o tucanato, ninho em que o senhor sempre se abrigou.
Flávio Aguiar é editor-chefe da Carta Maior
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter