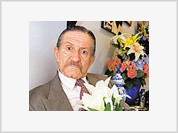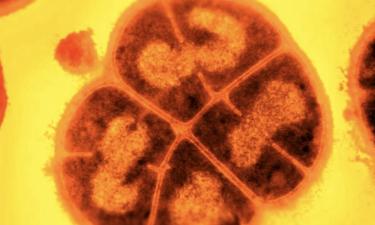Adélio Sarro
O silêncio dos sentidos ou a enigmática espera de Godot na pintura dualista de Adélio Sarro

As telas do artista plástico Adélio Sarro, nascido em 1950, no estado de São Paulo, estão povoadas de elementos, de formas e de cores pautados pelos dualismos alma e corpo, ontológico e transcendente, numa dialéctica constante entre os olhares órfãos de firmamentos e a presença recorrente do globo terrestre, ao alcance das personagens representadas.
Toda a arte se caracteriza pela criatividade e pela modernidade das suas formas que, consubstanciadas ao sentido, provocam uma vibração psíquica nos olhos do receptor motivando emoções decorrentes da harmonia entre os elementos, as formas e as cores, que o artista soube decompor na sua composição.
De facto, em arte, a presença ilusória de elementos referentes ao mundo objectivo deve motivar o imaginário do receptor, proporcionando-lhe uma visão de devaneio. É, exactamente, o que o pintor sugere ao receptor, atento às intermitências do coração. Os objectos familiares presentes (frutos, animais, alfaias agrícolas), aparentemente pueris, fascinam a alma do receptor, pela sua ressonância interior, porque não representam, mas reenviam para o mundo do imaginário (lembremos o quadro de Magritte: « Ceci nest pas une pomme»). Do mesmo modo, que «o vaso dá forma ao vazio e a música ao silêncio» (Braque), as formas e os poucos objectos evidenciam outros que estão ausentes. O mundo de Sarro é, obsessivamente, parco em formas, em objectos e em cores, mas rico numa simbologia que assenta no dualismo cósmico terra/céu, animal/homem.
A flor, símbolo da infância e do princípio passivo, assinala a intercepção entre a infância e a idade adulta. Por outro lado, a maçã, omnipresente, sugere, ao mesmo tempo, unidade e plenitude, imortalidade e divisão, provocando queda e expulsão do paraíso. Mas a maçã é, também, símbolo da eterna forma do conhecimento, da renovação e da frescura perpétua, em consonância com a presença do carneiro, força genésica, que desperta o homem e assegura a recondução do ciclo vital. A flauta (originalmente metade animal, metade homem) contribui para a harmonização da Natureza humana, juntando, numa mesma nota musical, o som celeste da voz dos anjos e o som telúrico do pastor, sem esquecer o encanto de Orfeu. As aves, mensageiras espirituais, relembram, permanentemente, a cumplicidade entre céu e terra.
Apesar desta carga simbólica, a visão da mundividência do artista é uma visão muito sóbria, com o objectivo de não dar espaço à futilidade (ou às futilidades). Assim, nas telas em que o artista privilegia, com frequência, o grande plano, a ausência de cenário sugere um espaço e um ambiente, que estão para além do imaginário. Não é, pois, o receptor, um artista que deve continuar a obra através da sua leitura? Uma obra de arte é sempre incompleta, sem a participação do receptor, na construção final da obra. Só ele pode e deve dar continuidade a uma obra aberta pelo artista.
Os olhos das suas personagens, todas elas jovens, hesitam entre o telúrico e a angustiante procura do indeciso, numa atitude, ao mesmo tempo, plácida e inquieta, característica do adolescente. Em todos os rostos destes jovens, condenados ao limbo de carência, se espelha um trejeito secular da condição humana de adultos que ainda não o são. A juventude das figuras presentes representa o início de uma nova aventura, na medida em que todos os corpos dos adolescentes «cheiram a princípio do mundo» e vivem ainda carentes de ternura, estampada nos semblantes displicentes. Todavia, a expressão melancólica dessa juventude é portadora de uma mensagem de revolta não violenta, caracterizada pela lentidão dos gestos, pelas formas arredondadas e pelas cores suaves, por vezes, presenciada por elementos simbolicamente suaves (a flauta, a melancia, a flor) e animais dóceis (o carneiro, a ave, o gato).
Uma linha austera divide em duas partes as faces destes jovens, separando simetricamente os olhos como duas órbitas, acaba por ferir a boca ao meio, contraindo, assim, os lábios numa insinuação sedenta de comunicação. Na verdade, como escreve George Steiner, nós não passamos de criaturas de uma grande sede. Uma comunicação impossível, na medida em que cada figura suspende o seu olhar no vazio, sem nunca cruzar o do outro. Raramente, as personagens presentes se olham, quanto menos olham na mesma direcção ou até em direcção ao outro. São olhos que, de qualquer modo, se procuram (e procuram uma luz) nas reminiscências platónicas.
Se os rostos permanecem introvertidos, para onde convergem as emoções, os pés e as mãos são vectores de sensualidade, ecos de pensamentos lascivos. As mãos, diz Eugénio de Andrade, são os mais belos sinais da terra, grossas, rudes, mas cheias de gestos generosos que, tal como os pés descalços (da humildade franciscana), entram em contacto directo com a terra, penetrando as entranhas da fecundidade, simbolicamente representada pela melancia, «Fruto da vida». As mãos, uma boca que fala à terra e da terra, que vêem e que sentem os rumores da terra. Curiosamente, ou não, nestes seres ávidos de comunicação, tudo fala, menos a boca.
Estes adolescentes, cuja pureza ainda sente o «sabor doce da infância» (veja-se a presença da boneca e da ventoinha), não tendo consciência do pecado original, sofrem da imanência desse pecado, e vivem num paraíso ilusório, à procura do paraíso («O sonho doce»), que vão perdendo, porque marcados pela fatalidade dos frutos que os pais comeram, deixando-lhes agora a boca amarga e os dentes talhados e, por isso, só ouvem «Ecos longínquos» do paraíso.
As criaturas de Sarro deixam de ser barro (se alguma dia alguém foi de barro!) para viverem do sopro da pigmentação. É esta a magia da arte: a metamorfose que o ser confere ao não ser, que o presente se busca no passado, que o silêncio se torna música, que a alegria espera ao lado da tristeza, que o frio se aquece na chama ardente do fogo, que o azul e o vermelho se diluem numa só cor: a cor da vida.
Os vincos rombudos das vestes (a lembrar El Greco), ao mesmo tempo, rugosos e suaves, numa consonância perfeita entre a espessura das cores quentes e ásperas (rosa e vermelho) e a polidez das cores celestes (azul e verde) ocultam (aparentemente) os recônditos do coração humano. Aliás, na pintura de Adélio Sarro, a cor aparece como suporte da profunda emoção artística. O azul, contrapondo o vermelho, sustenta outra simetria antitética, sugerida nas formas, ora obtusas, ora arredondadas. Ao percepcionarmos as telas do pintor paulista, os nossos olhos sentem, de imediato, a dialéctica desse mundo repartido entre os que exploram e os que são explorados, os que ardem de desejo, procurando uma vida aveludada, e um paraíso, que lhes foi prometido (no azul celeste), simplesmente vivem num inferno (vermelho).
Quer se trate de símbolos ou metáforas, os elementos representados nas telas de Adélio Sarro pertencem, antes de mais, ao mundo sensorial, cujas correspondências verticais (sentido/sentimento) ou horizontais (sinestesias) se interpenetram num mundo global ou globalizador. Há, nas formas e nas cores, paladares, músicas, fragrâncias e suavidades, por vezes, ásperas, enfim, os sentidos «todos num confundidos»
Todos os sentidos permanecem suspensos no silêncio dos olhares que ostentam uma serenidade exótica (como as figuras de Gauguin), contrastando com a insustentável e enigmática espera de Godot.
António Oliveira
Doutorado em Ciências da Literatura
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter