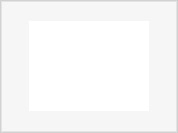Brasil: luta armada incondicional: na contramão da história
Mário Maestri Para o companheiro Lincoln Abreu Penna
As classes dominantes serviram-se sempre das armas para defender seus privilégios. O recurso à violência é, portanto, condição para a emancipação dos oprimidos. Não foi proposta retórica de Marx e Engels que a violência é a parteira da história. Desde sua constituição como a mais avançada orientação da luta anti-capitalista, o marxismo propôs o assalto armado dos oprimidos ao poder e impugnou atentados individuais e de grupos, golpes de mão, etc. Na Rússia, os marxistas combateram sempre essas derrapagens.
Não era moral a rejeição do marxismo àquele tipo de violência vanguardista. Ela nascia de concepção de revolução social através da difícil organização dos trabalhadores para a destruição da ordem burguesa e construção de novo Estado, no contexto de salto de qualidade na organização e consciência do mundo do trabalho. Percorrer essa trilha prepara o mundo do trabalho para a destruição da ordem burguesa e instauração de novo Estado por ele controlado. A emancipação dos trabalhadores é, portanto, necessariamente, obra dos trabalhadores.
O marxismo compreendeu como imprescindível, à insurreição das classes exploradas, a dilaceração da sociedade, nascida de exacerbação das contradições de classe, no contexto de avanço da consciência e organização dos trabalhadores. Porém, mesmo dadas essas condições, a vitória não é garantida. A insurreição é uma arte, uma ciência, nas quais a III Internacional procurou formar seus quadros, publicando até mesmo um manual sobre “a insurreição armada”.
León Trotsky descreveu, em forma mais precisa, por primeira vez, a desagregação social que possibilita a insurreição, após participar em posição privilegiada da Revolução de 1905, como o último presidente do soviete de Petrogrado. Em trabalhos sobre aquela revolta e, sobretudo, em sua História da Revolução Russa, descreveu o deperecimento da hegemonia do Estado, quando de convulsão social geral que chega a delimitar espaços geográficos opostos, construindo verdadeira “dualidade de poderes” opondo os opressores e os oprimidos.
No Chile, nas semanas entre o 29 de junho (Tancazo) e o 11 de setembro, direitistas, de um lado, e trabalhadores e populares, do outro, não se arriscavam longe de seus bairros, territórios libertados pertencentes a dois poderes em explosiva contradição. A negativa das direções que se diziam populares em dirigir os trabalhadores ao assalto ao poder abriu às portas ao massacre golpista, imprescindível para que a população voltasse a se submeter à hegemonia burguesa e esquecesse o quanto estivera perto de superá-la para sempre.
Partido contra Soviete
Nas crises sociais profundas, as classes dominantes, mesmo fragilizadas, mantém seus órgãos de poder centralizados, tendo como última trincheira as forças armadas. Os trabalhadores devem erigir, em forma acelerada, quando de crise revolucionária, órgãos de centralização de sua vontade e ação, para não soçobrarem. Trotsky viu nos sovietes, construídos pelos trabalhadores, em 1905, o órgão de centralização das forças insurgentes, que, segundo ele, ressurgiriam com a retomada do impulso revolucionário. No que teve razão. Descurou, inicialmente, da importância no assalto e conquista do poder do partido revolucionário, vanguarda organizada e centralizada das classes revolucionárias. Visão compartilhada com Rosa Luxemburgo, uma das causas da derrota da Insurreição Alemã de 1919.
Vladimir Lenin, com visão mais tradicional da luta pelo poder, defendia um não muito precisado insurrecionalismo para o assalto ao poder. Olhou inicialmente com desconfiança os sovietes, que temia que substituíssem o partido revolucionário que se esforçava em construir. Os bolcheviques pouca importância tiveram na Revolução e nos sovietes de 1905. Com as Teses de Abril de 1917, em dura disputa a direção bolchevique, Lenin aprovou a necessidade de luta imediata pelo poder, antes que a “dualidade de poderes” que se instalara se dissolvesse, contra os trabalhadores. O assalto deu-se a partir dos órgãos soviéticos, nos quais os bolcheviques haviam conquistado a maioria. Eles passaram a ser considerados como o eixo central do poder dos trabalhadores no novo Estado que, em 1922, foi batizado como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas — URSS. (Destacamos.)
Nos anos seguintes a 1917, consolidou-se a concepção da insurreição armada quando do advento de uma situação revolucionária, exacerbação de período pré-revolucionário anterior, nascido da exacerbação crescente das contradições sociais e estabelecimento de “dualidade de poderes” na sociedade. Os comunistas deviam facilitar e orientar o empuxo da luta de classes, em direção a um eventual período pré-revolucionário, que não dependia entretanto de suas vontades, já que maturado nas entranhas da sociedade. Deviam organizar, intervir e dirigir os oprimidos ao assalto ao poder, quando do exórdio de “situação revolucionária”, sem se atrasar ou adiantar a ela, o que podia ensejar e ensejou sequelas não raro terríveis aos trabalhadores.
A hecatombe da I Guerra Mundial acelerou vaga revolucionária na Europa que propiciou insurreições dos trabalhadores na Rússia, vitoriosa, e na Hungria, Alemanha, Itália, etc., derrotadas, por diversas razões. Em 1923, com o fiasco da segunda insurreição na Alemanha, a revolução refluiu. Diante da nova situação, a Internacional Comunista afinou suas políticas para atravessar aquele período, à espera de novo impulso da luta de classes. O homem põe, deus dispõe. A maré vazante facilitou o advento da ordem burocrático-estalinista, que romperia com o apoio e sufocaria a revolução mundial, imprescindível para a proteção da URSS, como lembravam V. Lenin, L. Trotsky e todos os bolcheviques fiéis à revolução de 1917.
Submissão dos Trabalhadores
Preocupada apenas com a URSS, onde assentava seus privilégios, a ditadura burocrático-stalinista interessava-se em manter boas relações com o mundo capitalista. Para os países coloniais e semi-coloniais, definiu revolução nacional-capitalista, dirigida por pretensa “burguesia progressista”. Ao findar a II Guerra, Luís Carlos Prestes e a direção do PCB chamaram os trabalhadores a “apertarem o cinto” e a não fazerem greves. Era revolucionário enriquecer os patrões… A revolução socialista ficava para um futuro impreciso, após o pleno amadurecimento da ordem capitalista. Igual colaboracionismo foi impulsionado nos países avançados. Na Itália, o PCI apoiou a anistia aos bandidos fascistas e desarmou os partigiani, que controlavam e governavam regiões da Itália.
Mesmo quando o estalinismo ensaiou surtos esquerdistas, por razões variadas, como o do chamado “Terceiro Período”, reafirmou a colaboração de classes e deu as costas aos trabalhadores. No putsch de 1935, o PCB defendeu programa anti-imperialista e industrialista-burguês. Neca de socialismo. E apoiou-se sobretudo nos quadros comunistas, nacionalistas e anti-fascistas das forças armadas. Manteve os trabalhadores no escuro até a eclosão da sublevação. Em 23 e 27 de novembro de 1935, chamados para o golpe de mão em marcha, sindicalistas comunistas e anti-fascistas acreditaram que se tratasse de provocação getulista. Para além do indiscutível heroísmo dos participantes, o putsch tratou os trabalhadores como meros apoios da revolta e violentou as condições objetivas e subjetivas do movimento social. Ele facilitou a repressão e, a seguir, o golpe getulista, de 1937, desorganizando, por longos anos, o movimento operário e de esquerda. Karl Marx diria que o “caminho do inferno da revolução está também pavimentado de boas intenções”.
Nos anos 1950-60, os comunistas sob as ordens moscovitas propunham programa anti-imperialista e industrialista, sob a direção de fantasmagórica “burguesia progressista”. A proposta de preparar o assalto ao poder, quando de período pré-revolucionário e situação revolucionária, para construção de ordem soviética, era tida como provocações esquerdistas trotskistas e luxemburguistas. Os comunistas argentinos abraçaram-se à burguesia anti-peronista e anti-operária e não tiveram pruridos em apoiar o golpe em 1976. O partido comunista de Cuba apoiou Fulgêncio Batista. No Brasil de João Goulart, com o PCB enredado ao trabalhismo e ao desenvolvimentismo burguês, nas vésperas do golpe, Prestes teria afirmado que os comunistas já se encontravam no governo e que tentativa direitista seria aplastada em forma inarredável pelos oficiais nacionalistas.
Dirigentes do PCB, como Diógenes Arruda Câmara, Apolônio de Carvalho, Carlos Marighella, Jacob Gorender, Joaquim Câmara Ferreira, Mário Alves e a militância comunista foram educados sob a hegemonia da colaboração de classes e estranhos à luta pela autonomia operária. No máximo, comungavam e conheciam a vulgata do marxismo estalinista e pós-estalinista, em um viés industrialista burguês-positivista. Em 31 de março de 1964, acordaram , todos, do sonho colaboracionista, quando a tal de “burguesia progressista” e “anti-capitalista” integrou com destaque o golpista. A derrota histórica, com repercussões não apenas no Brasil, deu-se sem qualquer resistência efetiva.
Retomada da Revolução
A partir dos anos 1950-60, os ventos revolucionários voltaram a agitar a Europa e o mundo: derrota da intervenção imperialista na Coréia do Norte; independência da Argélia; nacionalismo de esquerda no Oriente Médio; radicalização na Palestina; avanço da luta no Vietnã, Camboja, Laos; situação revolucionária na França, traída pelo PCF, em 1968; “Outono Quente” operário-estudantil na Itália, em 1969, combatido pelo PCI; luta pela independência das colônias portuguesas, etc. Nas barbas do imperialismo ianque, a revolução triunfou em Cuba, em 1959, e se definiu socialista, em 1961. O mundo voltou a respirar os ares puros da revolução em marcha.
O imperialismo e o grande capital optaram por ditaduras militares preventivas em inúmeros países, organizando-os segundo suas necessidades. Realidade facilitada pela inexistência, em qualquer região do mundo, de um partido marxista revolucionário, representando um sector importante do mundo operário, que defendesse a centralidade dos trabalhadores no processo revolucionário. Uma das poucas exceções, transitoriamente, foi o POR na Bolívia. As organizações marxistas-revolucionárias, de programa socialista, eram frágeis e, não poucas, mergulharam na confusão. Em inícios dos anos 1970, o maoismo revolucionário entrou em profunda crise com a aliança contra-revolucionária da China com os Estados Unidos.
Na vigência do impulso revolucionário mundial, alastraram-se como fogo em palha propostas simplistas e simplórias de libertação social a partir de pequeno grupo de guerrilheiros, enfurnados em montanhas, quaisquer fossem as condições do movimento social, e despreocupados com elas. Orientação nascida e fogueada sobretudo por má explicação das razões da vitória da Revolução Cubana. A ótica distorcida da “Serra Maestra”, na qual os trabalhadores foram totalmente cancelados, foi a interpretação quase única daquela magnífica vitória. Em verdade, a coluna guerrilheira como forma de combate de ordens ditatoriais tinha raízes anteriores aos sucessos cubanos. No Paraguai dos anos 1950, colunas de guerrilheiros de esquerda, liberais, etc. (FULNA, 14 de Mayo) foram aniquiladas pela repressão strosnista. Elas inspiravam-se comumente na coluna de Solano Lopéz, nos momentos conclusivos do grande conflito de 1864-70.
Vejamos telegraficamente os sucessos cubanos. Depois de variadas tentativas, em 2 de dezembro de 1956, pouco mais de oitenta jovens guerrilheiros, quase todos estranhos ao socialismo e ao marxismo, desembarcam na ilha quando já fracassara um planejado putsch anti-ditatorial. Refugiados na Serra Maestra, despertaram pouca preocupação à ditadura, ao não constituírem ameaça efetiva. Nos dois anos seguintes, instalou-se período pré-revolucionário através de toda a ilha, que se expressou em greves de trabalhadores das cidades e dos campos, manifestações estudantis e populares, atentados variados, etc. As baixas sofridas na Serra Maestra, causadas pelas ofensivas ditatoriais, eram substituídas, com acréscimo, por combatentes que chegavam abundantes das cidades e das planícies semi-sublevadas.
Luta Armada Incondicional
No auge da crise, em plena “situação revolucionária”, as colunas guerrilheiras fortalecidas pela sublevação nacional desceram para a planície e vergaram o exército nacional em dissolução. Sem minorar o caráter essencial e talvez imprescindível das colunas fidelistas na consolidação da revolução e seu prosseguimento em direção ao socialismo, não é difícil compreender que, se os guerrilheiros tivessem subido a serra, e a revolta urbana e rural não tivesse se alastrado, teriam sido facilmente derrotados. Seriam talvez hoje nota de pé de página da história cubana.
A narrativa fidel-guevarista transformou o grupo de jovens guerrilheiros, nos cumes da serra, no “fiat lux”, no alfa e no ômega da revolução, passando ao lado do papel determinante desenvolvido pelo movimento operário, popular, estudantil, etc. em sublevação através do país. A prática foi sempre o critério da verdade. Nos anos seguintes, dezenas de focos guerrilheiros repetiram a receita simplista e foram facilmente esmagados pela repressão, sem saber o que não funcionara. Entre eles, o foco boliviano, de Ernesto Che Guevara, dolorosa comprovação da honesta crença da direção cubana na proposta descabelada que difundiam.
A orientação do fidel-guevarismo —foquismo— era mirabolante: bastava um pequeno grupo de jovens armados de coragem e alguns fuzis subirem as montanhas, onde houvesse, para detonar o movimento que resultaria na conquista da cidade e do poder. Não mais os trabalhadores, mas a juventude revolucionária era agora o motor da história. Essa enorme abnormalidade, em tudo estranha e oposta à orientação marxista revolucionária da luta de classes e do assalto pelos trabalhadores do poder, levou à morte e à desmoralização milhares sobretudo de jovens guerrilheiros urbanos e rurais, com destaque para os universitários. Alguns deles, colegas e companheiros meus, mais ou menos próximos.
O quase total desconhecimento do marxismo — Fidel Castro se definia, ainda, em 1959, anti-comunista— e a juventude e falta de experiência política dos dirigentes cubanos ajudam-nos a compreender as sandices românticas do “foquimo”, divulgadas sobretudo no livreto Revolução na Revolução, de Regis Debray, de 1967, escrito após longos colóquios com Fidel Castro e patrocinado pelo comandante máximo cubano. O jovem intelectual francês chic radicalizado teria revelado, ao ser preso, a presença de Guevara na Bolívia. Em 1968, o livreto me foi passado, mimeografado a álcool, por colega do Curso de Engenharia da PUC-RS, então no POC, ganho pela proposta da “luta armada incondicional".
Alastrando-se como uma mancha de óleo
Lia então furiosamente os clássicos sobre a Revolução Russa, que apresentavam as dificuldades dos bolcheviques em conquistar e organizar os trabalhadores urbanos e rurais, nas idas e vindas da revolução. Vi no “foco”, se alastrando como mancha de óleo, história da carochinha em viés revolucionário. Então, a oposição e o desgosto social com a ditadura no país retomavam fôlego, mas estávamos a anos-luz de crise revolucionária. A classe trabalhadora seguia semi-imóvel. Nos dez anos seguintes, no Brasil, no Chile e na Europa, integrei grupos marxistas-revolucionários que defendiam o assalto militar ao poder, nas condições gerais para tal. Mas se opunham duramente às propostas autocidas de ações vanguardistas armadas que propúnhamos nascidas sobretudo do aventureirismo, imediatismo e romantismo pequeno-burguês.
Nessa polêmica, convencemos alguns companheiros e companheiras sobre o caráter insensato daquela proposta, salvando eventualmente suas vidas ou evitando que conhecessem terríveis sofrimentos físicos e morais desnecessários. Tínhamos razão ao afirmar que o foco rural e urbano jamais funcionaria e seria um enorme desastre. Mas nos faltavam elementos para a explicação do sucesso da Revolução Cubana. Naquele então, não tínhamos a internet, que hoje fornece informação imediata e exaustiva sobre tudo. Apenas mais tarde, encontrei, no ensaio magnífico de Vânia Bambirra, La revolucion cubana: una reiterpretación, publicado por primeira vez no Chile, em 1973, narrativa sobre a ampla situação que convulsionara toda a ilha, integrando assim a Serra a essa totalidade.
O fidel-guevarismo foi a negação total da concepção marxista da centralidade operária na luta contra o capital. E, portanto, da necessidade da organização dos trabalhadores das cidades e dos campos para o assalto do poder, no contexto da maturação de crise revolucionária, como proposto. Para o foquismo, não importavam as condições objetivas e subjetivas da luta de classes e da organização e consciência dos trabalhadores. Em qualquer lugar, em qualquer situação, a luta armada de um pequeno grupo de militantes criaria as condições revolucionárias, que se espalhariam, criando forças armadas revolucionárias capazes de assaltarem o poder. Em Combate nas trevas, Jacob Gorender batizou essa concepção de “luta armada incondicional”, ou seja, em qualquer condição.
No Brasil, o foquisto conheceu alguns milhares de adesões. Ele expressava às visões de mundo de praças, marinheiros e sub-oficiais nacionalistas e de esquerda expurgados das forças armadas pelos golpistas. E galvanizou o espírito de sacrifício, de aventura e imediatista da juventude, quando da retomada da aposição à ditadura, a partir de 1966. Em geral, entre os primeiros e os segundos, eram escassas a formação e a experiência política. Para a juventude, o “foquismo” era opção protagonística, de resultados imediatos, ao trabalho miúdo, silencioso, impessoal, semi-descoberto, de longa duração, de apoio à reorganização autonômica dos trabalhadores. Em refluxo desde 1964, o mundo do trabalho se manteve totalmente à margem das ações militaristas, mesmo nos casos em que simpatizava eventualmente com elas. Eram estranhas a sua essência classista.
Fuga para Adiante
A inexistência de educação e prática marxista revolucionária no PCB permitiu que ele ruísse como castelo de cartas após o golpe, sem que nenhuma de suas dissidências retomasse a fio vermelho revolucionário abandonado em fins dos anos 1920. Suas direções reafirmaram o colaboracionismo pacifista pré-1964 ou aderiram a versões diversas de “luta armada incondicional”. Opções armadas que não nasceram do estreitamento das possibilidades de organização dos trabalhadores, devido à repressão ditatorial. O mundo do trabalho foi simplesmente abandono, já que surgiam novos Prometeus da revolução. Intelectuais pequeno-burgueses radicalizados chegaram a propor o lupem-proletariado, os desempregados, os miseráveis, a juventude, etc. como a nova vanguarda. A definição majoritária de luta armada “anti-imperialista” e pela “libertação nacional” manteve o viés colaboracionista de aliança com os setores patrióticos da “burguesia nacional”.
Em regiões das Américas fortemente urbanizadas, ou sem montanhas, houve ensaio de adaptação do foquismo rural às cidades, como no caso dos Tupamaros no Uruguai, da VPR e da ALN, de Marighella, no Brasil. O Manual do guerrilheiro urbano, de Marighella, de 1969, serviu como espécie de tradução, para a cidade, das orientações de Revolução na Revolução, de Debray, para o campo. Entretanto, as organizações militaristas urbanas tinham em geral como meta estratégica o estabelecimento de guerrilhas rurais. No Brasil, os envolvidos direta e indiretamente em ações armadas jamais superaram, em um momento dado, nos melhores tempos, um punhado de milhares, em país de pouco mais de noventa milhões de habitantes, em 1970. Tratou-se de movimento de vanguarda que não conheceu repercussão-aceitação do movimento social, mantendo-se estranho a ele. A queda da ditadura seria acelerada, em meados dos anos 1970, pelo forte renascimento e ativismo do movimento operário e camponês, que envolveu dezenas de milhões de brasileiros e originou a seguir o PT e a CUT, então respectivamente anti-capitalista e classista, e o MST. Movimentos que, para o bem e para o mal, determinam ainda a história presente do país.
A derrota da luta armada foi política e não militar. Em Cuba, em 1957-59, a crise revolucionária geral desarticulava as forças armadas e alimentava as filas guerrilheiras, como vimos. No Brasil, os militantes ceifados pela repressão e pelo desânimo não eram substituídos, e as organizações armadas já pequenas desmilinguiam mais e mais. E, imersos nas concepções da “luta armada incondicional”, despreocuparam-se com o fim do ciclo recessivo “castelista”, impulsionado, no pós 1967, pelo “desenvolvimentismo de coturno” dos generais a serviço sobretudo do grande capital paulista. A aceleração do crescimento econômico (“Milagre”) isolou os pequenos grupos guerrilheiros urbanos, agora expostos como peixes nadando no asfalto. Aparelhos foram “estourados” por denúncias de vizinhos. Desde 1970, estudantes universitários atravessavam a rua para não ter que cumprimentar um colega militante.
Ensaios de focos rurais foram denunciados por camponesas assustados por estranhos jovens barbudos armados vagando pelos matos aparentemente sem destinos. O isolamento de Guevara na Bolívia foi exemplo paradigmático da improcedência total da “luta armada incondicional” e da crença da solução das contradições sociais apoiada na disposição, determinação e coragem individual. Em fins de 1970, cobri um “ponto”, na Praça da Matriz, em Porto Alegre, com um dos últimos militante da VPR rio-grandense. Um guri ainda mais jovem do que eu, talvez secundarista. Criticou-me por não aderir à luta armada, em processo adiantado de dissolução. Fiquei sabendo que, muito logo, fora preso e “desbundara” na televisão, talvez para salvar sua vida ou não ser torturado. Sempre me assombrou a dilaceração daquele quase adolescente, que sonhara seguir o caminho vitorioso dos cubanos e terminara, no mais profundo isolamento social, perseguido pelas forças militares, enquanto parte da população começava a inebriar-se com a expansão econômica.
Repressão para Todos
As ações exemplares de “propaganda armada”, “expropriações bancárias”, “sequestros”, etc. ensejaram que as organizações dedicadas à reorganização dos trabalhadores fossem igualmente reprimidas. A malha fina da rede atirada pela repressão capturava peixes grandes e lambaris. Com a tentativa mirabolante de sequestro de membro consular estadunidense em Porto Alegre, a fina flor da repressão desembarcou no Estado, que gozava de uma paz ainda que relativa, e pôs fim a quase toda a esquerda organizada.
As organizações armadas sofreram repressão em geral terrível, algumas vezes também por interesses econômicos. Em Porto Alegre, um delegado reclamava que, ao estourar “aparelho” trotskista, encontrara apenas livros, máquina de escrever, mimeógrafos a álcool. E nem um pila! Policiais e oficiais militares enriqueceram-se apoderando-se dos fundos milionários expropriados pelas organizações armadas — o equivalente hoje a dezenas de milhões de dólares!
Em meados dos anos 1970, o balanço era terrível. Na Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Perú e por aí vai, dezenas de milhares sobretudo de jovens haviam sido imolados em proposta de luta armada incondicional, nos campos e nas cidades, na mão da história. A Europa e os Estados Unidos foram também atingidos por propostas foquistas e guerrilheiras. As Brigadas Vermelhas e a Primeira Linha, na Italia; a Fração do Exército Vermelho, na Alemanha; Action Directe e Cellules Communistes Combattantes, na França; o Exército Vermelho japonês; a Organização Comunista 19 de Maio, o Weather Underground e o Black Liberation Army nos USA. Salvo engano, como no Brasil, nenhuma dessas organizações sobreviveu à derrota total, corrigindo sua ação, em registro da vacuidade total de suas propostas.
A negação do princípio da centralidade operária na revolução e a rusticidade política dos principais dirigentes das organizações armadas, nem todos jovens, no contexto do avanço da revolução mundial, contribuíram à ampla difusão de propostas políticas rasteiras e estranhas ao marxismo. A essas determinantes, temos que associar a pressão e a adesão, sobretudo de jovens das classes médias radicalizadas, a esse “pret-a-porter” revolucionário. Na Europa, em 1975, jovens militantes vibravam com a “luta armada incondicional” na América Latina, explicando-me que bastava armar os “favelados” para iniciar a revolução.
Compreende-se que combatentes destemidos como Carlos Lamarca e Carlos Marighella embarcassem e avançassem propostas de luta “armada incondicional”. Lamarca era militar profissional, preparado para o combate armado, sem experiência política anterior. Marighella, quadro político maduro de escassa formação política, abraçara toda a sua vida política o colaboracionismo stalinista e pós-estalinista. Diante do fracasso geral do que acreditara por décadas, saltou de proposta em que o partido era tudo, para outra em que o partido não era nada. Entretanto, lideranças políticas como Ernest Mandel e Livio Maitan, destacados estudiosos do marxismo, herdeiros diretos de tradição política que abominara o aventureirismo, apoiaram sem restrições essas práticas, com destaque para a Argentina e o Chile. Contribuíram para que milhares de militantes terminassem no exílio, na prisão, na tortura, mortos. Não acataram entretanto semelhante orientação para a Europa. E, após encerrado o desastre, jamais realizaram real e consequente autocrítica, que recomendaria afastarem-se de qualquer posição de direção.
* * *
O filme “Marighella”, de Wagner Moura, já foi definido como emocionante bang-bang identitário de esquerda. Ele enseja glorificação da oposição militarista à ditadura, através da apresentação simplistas de protagonistas destemidos que sacrificaram suas vidas ao enveredarem pelo beco sem saída da “luta armada incondicional”. Opção com sequelas gravíssimas para o movimento social, para a luta de classes e para a esquerda no Brasil e na America Latina. A partir de abordagem emotiva e linear, o filme não permite compreensão mínima dos sucessos históricos que aborda. O que foi realizado magistralmente pelo filme “Lamarca”, de Sergio Rezende, com Paulo Betti. De certo modo, “Marighella” e sua avaliação acrítica e romântica são produtos da enorme depressão da esquerda marxista brasileira, da força do colaboracionismo, da enorme hegemonia atual das classes exploradoras. “Ousar lutar, ousar vencer” é certo e necessário. Mas, compreendemos o que fizemos de errado, no passado, para não repetir no presente, é a melhor e única forma de homenagear nossos combatentes caídos.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter