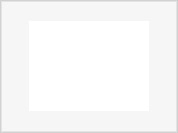Por mares nunca dantes navegados...
Para Tito, já ausente, mas sempre presente.
Iraci del Nero da Costa*
 Portugal e Espanha, católicos e, quando de sua formação nacional, confinantes com muçulmanos, colocavam-se na área de choque entre duas civilizações que à época se digladiavam. Daí conhecerem um feudalismo peculiar no qual desde logo sobressaiu a figura sobranceira da Coroa sob cuja égide deu-se a precoce unificação dessas nações, as primeiras a adquirirem os contornos distintivos dos Estados modernos.
Portugal e Espanha, católicos e, quando de sua formação nacional, confinantes com muçulmanos, colocavam-se na área de choque entre duas civilizações que à época se digladiavam. Daí conhecerem um feudalismo peculiar no qual desde logo sobressaiu a figura sobranceira da Coroa sob cuja égide deu-se a precoce unificação dessas nações, as primeiras a adquirirem os contornos distintivos dos Estados modernos.
O resultado maior destes sucessos históricos encontra-se na posição pioneira assumida pelas duas nações da península Ibérica na expansão marítima européia, por elas sistemática e vitoriosamente encetada.
Ademais, seus navegantes não se cingiram, como haviam feito anteriormente os navegadores nórdicos, ao mero reconhecimento de novas áreas do planeta. Não, os exploradores ibéricos executaram missão mais complexa e completa pois estabeleceram as bases de dois grandes impérios mundiais ocupados em comerciar, colonizar e explorar economicamente as terras descobertas. Assim, o tratado de Tordesilhas não representa só a divisão pela metade do globo, mas anuncia sua ocupação efetiva por dois povos arrojados, destemidos e cosmopolitas.
No Brasil, a Coroa empreende, pioneiramente, a valorização da terra como forma de viabilizar sua ocupação. Com as Capitanias Donatárias e mediante a doação de sesmarias e o fabrico do açúcar atrai o capital particular para a tarefa de ocupar e povoar uma área na qual esperava encontrar os minerais preciosos que tão solicitamente se ofereceram aos espanhóis. Solução genial, dirão alguns; nem tão, porque empiricamente achada, arguirão outros; sim, num mundo pré-cartesiano, redarguirão aqueloutros. De toda sorte, genial, repisamos nós.
Enquanto no Brasil o capital escravista-mercantil (uma forma específica do capital) levava avante a tarefa de produzir ganhos para colonizadores, Coroa e mercadores metropolitanos, Portugal e Espanha davam continuidade, sob a égide do capital comercial à luta pela conquista dos mercados mundiais estendendo sua presença e influência do Novo Mundo ao extremo Oriente.
O capital comercial achava-se concentrado em poucas mãos que não se perdiam num cipoal de pequenos empreendimentos e que souberam acomodar-se de sorte a fazer prevalecer, tanto internamente e em suas dependências coloniais como nos mercados que dominavam, as práticas mercantilistas consubstanciadas nos monopólios, no fechamento de mercados e na institucionalização de benesses e privilégios que visavam a garantir a permanência indefinida dos ganhos oriundos de trocas desiguais, ganhos estes próprios do capital mercantil que, assim, não se viu compelido a transmudar-se em capital industrial.
Enfim, os capitalistas dessas nações não se defrontaram com situações concretas - como as que prevaleceriam, em maior ou menor grau, na Holanda, Inglaterra e França - que os obrigasse a imprimir mudanças na condução de seus negócios, na forma como se relacionavam com o mundo produtivo e na maneira como se organizavam politicamente. Destarte, os lucros que auferiam do puro ato de intermediar a compra e a venda puderam continuar a acumular-se sem óbices, assim, o capital comercial deparou-se com um ambiente ideal para repor-se em escala ampliada. Não se impuseram, aos capitalistas portugueses e espanhóis, a concorrência e a inovação. Eles não foram obrigados a concorrer! Puderam gozar, sem maiores percalços, esta ante-sala do paraíso representada pela fórmula D-M-D', em muito, próxima da fórmula excelsa, a do capital usurário: D-D', a transmutação imediata de dinheiro em mais-dinheiro, ou seja, o nirvana sonhado por todo capitalista consciente do real papel social que lhe cabe desempenhar.
Vale aqui, creio, uma breve reflexão sobre o "espírito do capitalista". A ação e consciência do capitalista, enquanto personificação do capital, estão dirigidas pela valorização do valor e tão só pela valorização do valor. Se para alcançar tal objetivo for preciso "valorizar" o trabalho ele será valorizado, se para atingir tal meta for necessário concorrer então concorrer-se-á, se para tanto é imperioso desenvolver as técnicas e aumentar a produtividade isto será feito, se para maximizar os ganhos se impuser a continuidade de práticas que gerações futuras considerarão arcaicas ou pouco inventivas nelas perseverar-se-á.
Portugal e Espanha ao estagnarem-se, ao congelarem as mentes e as instituições e ao se prenderem a uma forma de capital tradicional procuraram, como avançado, a maior proximidade possível com a verdadeira alma burguesa, qual seja a maximização dos ganhos no mais curto espaço de tempo possível. Lembremos, ademais, que essa atitude não se deveu a uma falsa percepção do momento histórico; não, os capitais aplicavam-se nas atividades mais rentáveis daquela quadra e assumiam a forma mercantil porque essa forma aliada àquelas atividades propiciava o maior retorno possível naquele momento histórico determinado.
Haveria alternativas? Sempre as há, aqui a questão é saber se eventuais alternativas conseguiriam impor-se. Havia clima político, econômico, psicológico e ideológico para, digamos, "pensar-se mais a longo prazo"? Para "pensar" sim; para implementar não. Ora é justamente este o ensinamento das repostas às crises do segundo meado dos séculos XVII e XVIII. Nas duas oportunidades, na primeira sob inspiração de Duarte Ribeiro de Macedo e na segunda sob a condução enérgica do Marquês de Pombal, as práticas inovadoras e que apontavam no sentido do desenvolvimento manufatureiro autônomo de Portugal são adotadas e seus frutos positivos chegam a materializar-se; não obstante, superadas, em curto espaço de tempo, as causas imediatas das crises, e na ausência de uma massa crítica expressiva de "interesses industrializantes" que certamente não chegaram a cristalizar-se no aludido espaço de tempo, impõem-se novamente as velhas práticas. Sobre a crise do século XVII diz Vitorino de Magalhães Godinho: "Os anos de 1690 a 1705 foram de incontestável incremento e prosperidade mercantil para Portugal. Ora, sendo a política industrial uma resposta à crise comercial, uma vez esta passada, a primeira perdia a sua razão de ser." (GODINHO, V. M. Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro (1670-1770). Estudos Econômicos. São Paulo: IPE-USP, 13(número especial), 1983, p. 726).
Os dois exemplos aqui arrolados evidenciam a capacidade de "resposta" de Portugal em face de condições adversas demonstrando, ademais, ainda estar viva, já avançado o século XVIII, a flexibilidade e maleabilidade de aculturação características dos primeiros navegadores e colonizadores lusos. Assim, como avançado, a volta às velhas práticas não se deu por incapacidade de formulação de alternativas nem pelo apego irracional a posturas conservadoras, mas, sim, pela adoção estrita da "racionalidade" econômica própria do capital, em geral, e do capital comercial, em particular: auferir, no mais curto espaço de tempo, o máximo possível de ganhos.
Prosseguir naquele momento com o projeto "industrializante" que aproximaria Portugal do "modelo" inglês seria renunciar a lucros imediatos em favor de eventuais ganhos futuros sobre os quais não se tinha, à época, segurança alguma, pois poderiam mostrar-se ilusórios, não passando, tal "modelo", de uma grande esparrela. "Realisticamente", os portugueses anteciparam o sombrio "vaticínio" de J. M. Keynes: maximizemos aqui e agora, pois "no longo prazo todos estaremos mortos."
Enfim, os portugueses caíram em armadilha por eles mesmos armada ao não desenvolverem o capital industrial porque a Revolução Industrial "deu certo"; se ela não viesse a obter êxito superando definitivamente o capital mercantil e as práticas econômicas e políticas a ele associadas, estaríamos hoje a dizer: "A arguta sensibilidade dos mercantilistas ibéricos evitou-lhes o desastre da Revolução Industrial". Assim funcionam os volúveis desígnios da História: os portugueses foram vítimas de seu próprio pioneirismo.
* Professor Livre-docente aposentado da Universidade de São Paulo.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter