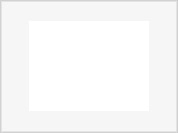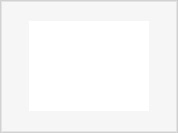Para uma teoria do poder destituinte
"A tradição dos oprimidos nos ensina que o 'estado de exceção' em que vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a esta verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção (BENJAMIN, 2011, p. 226)."*

____________________________
Refletir sobre o destino da democracia hoje aqui em Atenas é em algum sentido perturbador, porque obriga a pensa o fim da democracia no local onde ela nasceu. De fato, a hipótese que gostaria de sugerir é que o paradigma governamental que prevalece hoje na Europa não só é não democrático, como sequer pode ser considerado paradigma político. Na sequência, tentarei demonstrar que a sociedade europeia hoje já não é sociedade política: é uma coisa inteiramente nova, para a qual nos falta terminologia adequada e para a qual temos, portanto, de inventar estratégia nova.
Comecemos com um conceito que parece, a partir de setembro de 2001, ter substituído qualquer outra noção política: segurança [ing. security].
Como vocês sabem, a fórmula "por razões de segurança" funciona hoje em todos os domínios, da vida diária aos conflitos internacionais, como palavra-senha para impor medidas que o povo não tem motivo algum para aceitar. Tentarei mostrar que o objetivo real de medidas de segurança não é, como atualmente se pressupõe, prevenir perigos, problemas ou até catástrofes. Para fazer isso, serei obrigado a traçar uma genealogia curta do conceito de "segurança".
Um via possível para esboçar essa genealogia seria inscrever a origem e a história do conceito de "segurança" no paradigma do Estado de exceção. Nessa perspectiva, poderíamos rastreá-lo até o princípio romano "Salus publica suprema lex", segurança pública é a lei mais alta, e conectá-lo à ditadura romana; com o princípio canônico segundo o qual a necessidade não reconhece nenhuma lei; com os comités de salvação pública (comités de salut publique) durante a Revolução Francesa e finalmente com o artigo 48 da República de Weimar, que foi o fundamento jurídico para o regime nazista. Essa genealogia é com certeza correta, mas não acho que possa explicar o funcionamento dos aparelhos e medidas de segurança que são familiares para nós.
O Estado de exceção foi concebido originalmente como medida provisória, pensado para lidar com perigo imediato, para restaurar a situação normal; mas as razões de segurança hoje são tecnologia permanente de governo.
Quando, em 2003, publiquei livro no qual tentei mostrar precisamente como o Estado de exceção estava-se convertendo, nas democracias ocidentais, em sistema normal de governo, não podia imaginar que meu diagnóstico se comprovaria tão acertado. O único precedente claro era o regime nazista. Quando Hitler tomou o poder em fevereiro de 1933, imediatamente promulgou um decreto que suspendia os artigos da Constituição de Weimar concernentes a liberdades pessoais. O decreto jamais foi revogado, o que significa dizer que todo o 3º Reich pode ser considerado um Estado de exceção que durou 12 anos.
O que está acontecendo hoje é diferente também disso. Um Estado formal de exceção não é Estado declarado e o que se vê é que vagas noções não jurídicas - tipo "razões de segurança" - são usada para instaurar um Estado estável de emergência incapacitante e fictícia, sem que se veja qualquer perigo claramente identificável. Exemplo dessas noções não jurídicas que são usadas como fatores produtores de emergência é o conceito de crise.
Além do significado jurídico de julgamento em tribunal, duas tradições semânticas convergem na história desse termo o qual, como é evidente cá na Grécia, para os gregos, vem de um verbo grego crino: uma tradição semântica médica, outra teológica. Na tradição médica, crisis designa o momento em que o médico tem de julgar, para decidir se o paciente viverá ou morrerá. O dia ou os dias em que essa decisão é tomada são ditos crisimoi, os dias decisivos. Na teologia, crise é o Juízo Final pronunciado por Cristo no fim dos tempos. Como todos podem ver, o essencial nessas duas tradições é a conexão com um determinado momento, um certo ponto no tempo. No uso que se faz hoje do termo "crise" essa conexão, precisamente, é abolida. Crisis, o julgamento, é separado desse índice temporal e coincide agora com o andamento cronológico do tempo, de tal modo que, não só na economia e na política, mas em todos os aspectos da vida social, a crise coincide com a normalidade e se torna, assim, apenas uma ferramenta de governo.
Consequentemente, a capacidade para decidir de uma vez por todas, sem volta, desaparece; e o processo ininterrupto de tomada de decisões nada decide. Em termos paradoxais, pode-se dizer que, tendo de encarar Estado de exceção continuado, o governo tende a assumir a forma de um perpétuo golpe de Estado.
Por falar nisso, esse paradoxo também descreve bem o que acontece na Grécia [em 2013] e também na Itália, onde governar significa fazer séries continuadas de pequenos golpes de Estado. O atual governo da Itália não é legítimo.
Por isso me parece que, para compreender a governabilidade peculiar sob a qual vivemos, o paradigma do Estado de exceção não é completamente adequado. Seguirei então a sugestão de Michel Foucault e investigarei a origem do conceito de segurança no início da economia moderna, com François Quesnais e os Fisiocratas, cuja influência sobre a governabilidade moderna dificilmente se conseguiria superestimar.
Começando com o Tratado de Vestfália, os grandes Estados absolutistas europeus começaram a introduzir em seu discurso político a ideia de que o soberano tem de cuidar da segurança de seus súditos. Mas Quesnay é o primeiro a pôr a segurança (fr. sureté) como a noção central na teoria do governo - e o fez de modo muito peculiar.
Um dos problemas que os governos tinham de enfrentar naquele tempo era o problema das grandes fomes, quando as ficavam absolutamente sem ter o que comer. Antes de Quesnay, a metodologia usual para tentar prevenir as fomes era criar silos públicos para armazenamento de grãos e proibir a exportação de cereais. As duas medidas tinham efeitos negativos sobre a produção. A ideia de Quesnay foi inverter o processo: em vez de tentar impedir as grandes fomes, decidiu deixar que acontecessem e tratar de conseguir governá-las quando estivessem instaladas, liberalizando as trocas, internas e externas. "Governar" nessa acepção preserva o significado etimológico cibernético: good [bom] kybernes, um bom piloto não pode impedir as tempestades, mas, se a tempestade acontece, tem de ser capaz de governar seu barco, usando a força das ondas e dos ventos para a navegação. Esse é o significado do famoso "laisser faire, laissez passer": não é só a frase-signo do liberalismo econômico: é o paradigma do governo que concebe a segurança (sureté, nas palavras de Quesnay) não como prevenção de problemas, mas como a habilidade de governar e guiá-los na melhor direção, quando acontecem.
Não podemos descuidar das implicações filosóficas dessa inversão. Significa transformação que abre nova época na própria ideia de governo, que inverte a tradicional relação hierárquica entre causas e efeitos. Dado que governar as causas é difícil e caro, mais seguro e mais útil tentar governar os efeitos. Minha ideia é que esse teorema de Quesnay é o axioma da governabilidade moderna.
O antigo regime visava a governar as causas. A modernidade pretende governar os efeitos. E esse axioma aplica-se a todos os domínios: da economia à ecologia, da política exterior e militar às medidas internas de polícia. Temos de nos aperceber de que governos europeus hoje desistiram de comandar as causas; só querem governar os efeitos.
E o teorema de Quesnay também torna compreensível um fato que, de outro modo, é inexplicável: falo da convergência paradoxal de um paradigma absolutamente liberal na economia, com um paradigma sem precedentes e igualmente absoluto de controle pelo Estado e pela polícia. Se o governo visa aos efeitos, não às causas, será obrigado a estender e multiplicar os controles. Causas têm de ser conhecidas; efeitos só podem ser constatados e controlados.
Uma esfera importante na qual o axioma é operativo é a dos aparatos biométricos de segurança, que cada vez mais invadem todos os aspectos da vida social. Quando as tecnologias biométricas apareceram pela primeira vez no século 18 na França com Alphonse Bertillon, e na Inglaterra com Francis Galton, o inventor das impressões digitais, eles obviamente não pensavam em impedir que crimes acontecessem, só queriam identificar criminosos reincidentes. Só quando um segundo crime já foi cometido, é possível usar os dados biométricos para identificar o criminoso.
Tecnologias biométricas, que foram inventadas para criminosos reincidentes, permaneceram por muito tempo exclusivo privilégio deles. Em 1943, o Congresso dos EUA ainda rejeitava a Lei de Identificação do Cidadão, que visava a introduzir um documento de identidade para cada cidadão, com a impressão digital. Mas, por uma espécie de fatalidade da lei não escrita da modernidade, as tecnologias que haviam sido inventadas para animais, criminosos, estrangeiros ou judeus acabaram estendidas a todos os seres humanos. Daí, ao longo do século 19, as tecnologias biométricas foram aplicadas a todos os cidadãos, e as fotos de identidade de Bertillon e as impressões digitais de Galton são hoje usadas em todos os países, para cartões de identidade.
Mas o passo extremo só foi dado em nossos dias e ainda está em processo de total realização. O desenvolvimento de novas tecnologias digitais, com scanners óticos que podem facilmente registrar não só as impressões dos dedos, mas também da retina ou da estrutura da íris do olho, os aparelhos biométricos tende a ir além dos postos de polícia e escritórios da imigração, e espalham-se pela vida de todos os dias. Em muitos países, o acesso a restaurantes estudantis ou até a escolas é controlado por um aparato biométrico no qual o aluno apenas põe a mão. As indústrias europeias, nesse campo, que crescem rapidamente, recomendam que os cidadãos habituem-se a esse tipo de controle, desde a mais tenra idade.
É fenômeno perturbador, porque as Comissões Europeias para o desenvolvimento da segurança, (como o Programa Europeu de Pesquisa de Segurança [orig. ESPR, European Security Research Program]) incluem entre seus membros permanentes representantes das grandes indústrias desse campo, que são fabricantes de armas como Thales, Finmeccanica, EADS e BAE System, que se converteram ao negócio da segurança.
É fácil imaginar os perigos representados por uma potência que pode ter à disposição dela informação biométrica e genética ilimitada de todos os seus cidadãos. Com esse poder à mão, a exterminação de judeus, que foi feita a partir de documentação muito menos eficaz, teria sido total e incrivelmente rápida. Mas não me estenderei sobre esse importante aspecto do problema da segurança. As reflexões que gostaria de partilhar com vocês têm a ver, mais, com a transformação da identidade política e das relações políticas envolvidas nas tecnologias de segurança. Essa transformação é tão extrema, que podemos legitimamente perguntar não só se a sociedade na qual vivemos ainda é sociedade democrática, mas, também, se essa sociedade ainda pode ser considerada política.
Christian Meier mostrou como, no século 5º, aconteceu em Atenas uma transformação da conceitualidade política, que se baseou no que ele chama de uma "politização" (politisierung) dos cidadãos. Se até aquele momento o fato de pertencer à polis era definido por várias condições e status social de tipo diferente - por exemplo, pertencer à nobreza ou a uma determinada comunidade cultural, ser camponês ou mercador, membro de uma determinada família, etc. -, daquele ponto em diante a cidadania passava a ser o principal critério de identidade social.
"Resultado disso foi uma concepção de cidadania especificamente grega, na qual o fato de os homens tinham de comportar-se como cidadãos encontrou uma forma institucional. O pertencimento a comunidades econômicas ou religiosas foi removido para grau secundário. Os cidadãos de uma democracia se consideravam membros da polis, só na medida que se devotavam à uma vida política. Polis e politeia, cidade e cidadania, constituíram e definiram-se uma a outra. A cidadania passou a ser desse modo uma forma de vida, pela qual a polis se autoconstituiu num domínio claramente distinto da oikos, da casa. Político passou a designar um espaço público livre, oposto ao espaço privado, que era o reino da necessidade.
Segundo Meier, esse processo especificamente grego de politização foi transmitido à política ocidental, onde a cidadania permaneceu o elemento decisivo.
A hipótese que gostaria de propor a vocês é que esse fator político fundamental entrou num processo irrevogável que só podemos definir como processo de crescente despolitização. O que no início foi modo de vida, uma condição essencialmente e irredutivelmente ativa, agora se converteu em status jurídico puramente passivo, no qual ação e inação, privado e público são progressivamente misturados e se tornam indistinguíveis. Esse processo de despolitização da cidadania é tão evidente, que não me deterei sobre ele.
Em vez disso tentarei mostrar como o paradigma da segurança e os aparatos de segurança desempenharam papel decisivo nesse processo. A extensão crescente aos cidadãos de tecnologias que foram concebidas para criminosos teve inevitavelmente consequências sobre a identidade política do cidadão. Pela primeira vez na história da humanidade, a identidade não é função da personalidade social e do reconhecimento dela por outros, mas, em vez disso, é função de dados biológicos, que não podem ter qualquer relação com a personalidade, como os arabescos das impressões digitais ou a disposição dos genes na dupla hélice do DNA. O traço mais neutro e privado torna-se fator decisivo de identidade social, a qual perde, portanto, seu caráter público.
Se minha identidade é agora determinada por fatos biológicos que de modo algum dependem do meu desejo e sobre os quais não tenho controle, então se torna muito problemática a construção de algo como uma identidade política e ética. Que relacionamento posse eu estabelecer com minhas impressões digitais ou com meu código genético? A nova identidade é uma identidade sem a pessoa, como era antes; na qual o espaço da política e da ética perde o sentido e passa a ter de ser pensado outra vez, do fundo para cima. Enquanto o cidadão grego foi definido mediante a oposição entre o privado e o público, a oikos, que é o lugar da vida reprodutiva, e a polis, lugar da ação política, o cidadão moderno parece mais mover-se numa zona indiferenciada entre o privado e o público, ou, para citar termos de Hobbes, entre o físico e o corpo político.
A materialização em espaço dessa zona de indiferença é a vídeo-vigilância das ruas e praças de nossas cidades. Aqui também o aparato que foi concebido para as prisões, foi estendido aos locais públicos. Mas é evidente que um local gravado em vídeo não é mais uma agora e torna-se um híbrido de público e privado, uma zona indiferenciada entre a prisão e o fórum. Essa transformação do espaço político é certamente fenômeno complexo, que envolve multiplicidade de causas, e entre elas o nascimento do biopoder têm lugar especial.
O primado da identidade biológica sobre a identidade política é com certeza ligado à politização da vida nua em estados modernos. Mas não se pode jamais esquecer que o nivelamento da identidade social com a identidade corporal começou com a tentativa de identificar criminosos reincidentes. Não nos deveríamos surpreender se hoje o relacionamento normal entre o Estado e seus cidadãos é definido pela suspeita, pelo fichamento policial e pelo controle.
O princípio não dito que governa nossa sociedade pode ser exposto nos seguintes termos: cada cidadão é e todos os cidadãos são terrorista potencial.
Mas o que é um Estado governado por tal princípio? Será que ainda o podemos definir como Estado democrático? Podemos sequer considerá-lo como coisa política? Em que espécie de Estado vivemos hoje?
Vocês provavelmente sabem que Michel Foucault, em seu livro Vigiar e Punir e em seus cursos no Collège de France esboçou uma classificação tipológica de Estados modernos. E mostra como o Estado do Antigo Regime, que ele chama de Estado territorial ou soberano, e cujo motto foi faire mourir et laisser vivre [fr. "fazer morrer e deixar viver"], converte-se progressivamente num Estado-população e num Estado disciplinador, cujo motto inverte-se para faire vivre et laisser mourir [fr. "fazer viver e deixar morrer"], quando aquele Estado passa a produzir corpos saudáveis, bem ordenados e gerenciáveis.
O Estado no qual vivemos hoje não é mais Estado disciplinador. Gilles Deleuze sugeriu chamá-lo "Estado de controle" [fr. Etat de contrôle], ", porque o que ele quer não é ordenar e impor disciplina, mas gerenciar e controlar. A definição de Deleuze está correta, porque gerenciamento e controle não coincidem necessariamente com ordem e disciplina. Ninguém o disse mais claramente que o policiar italiano que, depois dos tumultos em Gênova em julho de 2001, declarou que o governo não queria que a polícia mantivesse a ordem; queria que gerenciasse a desordem.
Politólogos norte-americanos, que tentaram analisar a transformação introduzida na Constituição dos EUA pela "Lei Patriótica" [orig. Patriot Act] e outras leis aprovadas depois de setembro de 2001, preferem falar de um "Estado de Segurança". Mas o que significa aqui "segurança"? Foi durante a Revolução Francesa, que a noção de segurança [orig. security (ing.) - sureté (fr.)], como diziam - ligou-se à definição de polícia.
As leis de 16/3/1791 e de 11/8/1792 introduziram assim, na legislação francesa, a noção de "polícia de segurança" [fr. police de sureté], condenada a ter longa história da modernidade. Se se leem os debates que precederam a aprovação daquelas leis, vê-se que "polícia" define "segurança" e vice-versa; e que nenhum dos oradores (Brissot, Heraut de Séchelle, Gensonné) consegue definir seja "polícia" seja "segurança" por elas mesmas, sem recorrer à definição da outra.
Os debates concentram-se sobre a situação da polícia em relação à justiça e ao poder judiciário. Gensonné afirma que são "dois poderes separados e distintos". Porém, se a função do poder judiciário é bem clara, é absolutamente impossível definir o papel da polícia. Análise do debate mostra que o lugar e a função da polícia são indecidíveis e têm de continuar indecidíveis, porque, se fosse realmente incorporada no poder judiciário, a polícia não poderia continuar a existir.
Esse é o poder discricionário que ainda hoje define a ação do oficial de polícia, o qual, numa situação concreta de perigo para a segurança pública, age, por assim dizer, como um soberano. Mas, mesmo quando exerce esse poder discricionário, o policial não toma realmente qualquer decisão, nem prepara, ["instrui"] como se diz em geral, a decisão do juiz. Decisões concernem necessariamente às causas; mas a polícia só age sobre efeitos; e efeitos, por definição, não são decididos por ninguém.
O nome desse elemento não decidido já não é hoje, como foi no século 17, a raison d'Etat [razão de Estado]: hoje se chama "razões de segurança".
O Estado de Segurança é um Estado policial: mas, outra vez, na teoria do Direito, a polícia ainda é uma espécie de buraco negro. Tudo que se pode dizer é que, quando a chamada "Ciência da Polícia" apareceu pela primeira vez no século 18, a palavra "polícia" foi devolvida à etimologia a partir do grego politeia - e, assim, oposta à "política".
Mas surpreende ver que Polícia coincide hoje com a verdadeira função política; e a palavra Política é reservada à política externa. Assim Von Justi, em seu tratadoPolicey Wissenschaft [ciência policial], chama de Politik a relação de um Estado com outros Estados; e chama de Polizei a relação de um Estado com ele mesmo. A definição dele merece atenção (cito): "Polícia é a relação de um Estado consigo próprio."
A hipótese que gostaria de sugerir aqui é que, se pondo sob do signo da segurança, o Estado deixou o domínio da política, para entrar numa terra de ninguém, cuja geografia e cujas fronteiras permanecem desconhecidas.
O Estado de Segurança, cujo nome parece fazer referência a uma ausência de qualquer cuidado/preocupação [todos, por hipótese, viveriam seguros, sem preocupações ("securus", de sine cura), num Estado de Segurança], deve, ao contrário, nos levar a nos preocupar com os perigos que ele implica para a democracia, porque no Estado de Segurança a vida política tornou-se impossível - e "democracia" significa precisamente a possibilidade de uma vida política.
Mas gostaria de concluir - melhor dizendo, de parar essa conferência (em filosofia, como em arte, nenhuma conclusão é possível; o máximo que se pode fazer é abandonar o trabalho no ponto em que esteja), com algo que, tanto quanto consigo ver agora, é talvez o problema político mais urgente.
Se o Estado que temos diante de nós é o Estado de Segurança que descrevi, temos de repensar, do zero, as estratégias tradicionais dos conflitos políticos. O que fazer? Que estratégia devemos seguir?
O paradigma da segurança implica que cada dissenção, cada tentativa mais ou menos violenta para derrubar a ordem da segurança, converte-se em oportunidade para repor a dissenção, a tentativa, numa direção mais lucrativa.
É o que se vê bem evidente na dialética que mantém firmemente presos um ao outro o terrorismo e o Estado de Segurança, numa espiral viciosa sem fim.
Começando com a Revolução Francesa, a tradição política da modernidade concebeu mudanças radicais sempre na forma de um processo revolucionário que age como o poder constituinte - o pouvoir constituant, poder que constitui - de uma nova ordem institucional.
Acho que temos de abandonar esse paradigma, e tentar pensar alguma coisa como uma puissance destituante, um "poder puramente destituinte", que não possa ser capturado na espiral da segurança.
É um poder destituinte desse tipo que Benjamin tinha em mente em seu ensaio "Para uma crítica da violência", quando tenta definir a pura violência que pode "romper a falsa dialética entre a violência que faz a lei, e a violência que protege a lei", exemplo da qual é a greve geral proletária de Sorel. "Quando se quebra esse ciclo" - Benjamin escreve ao final do ensaio -, "mantido por formas míticas de lei, sobre a destituição da lei com todas as forças das quais a lei depende, portanto com a abolição do poder do Estado, funda-se uma nova época histórica". Enquanto um poder constituinte destrói a lei só para recriá-la numa nova forma, o poder destituinte, na medida em que depõe a lei de uma vez por todas, pode iniciar uma época histórica realmente nova.
Pensar esse poder puramente destituinte não é tarefa fácil. Benjamin escreveu que nada é tão anárquico quanto a ordem burguesa. No mesmo sentido, Pasolini em seu último filme, faz um dos "quatro amigos" dizer aos seus escravos: "a verdadeira anarquia é a anarquia do poder". É precisamente porque o poder se autoconstitui mediante a inclusão e a captura da anarquia e da anomia, que é tão difícil ter acesso direto a essas dimensões, tão difícil pensar hoje algo que seja uma verdadeira anarquia ou uma verdadeira anomia.
Acho que uma práxis que seja bem-sucedida em expor claramente a anarquia e a anomia capturada nas tecnologias do governo de segurança poderia funcionar como poder puramente destituinte. Uma dimensão política realmente nova só se torna possível quando agarramos e depomos a anarquia e a anomia do poder. Mas não é tarefa só teórica: significa antes de tudo redescobrir uma forma de vida, o acesso a uma nova figura daquela vida política cuja memória o Estado de Segurança tenta cancelar a qualquer preço. *****
* Epígrafe acrescentada pelos tradutores.
"Marcelo Abelha divide os conflitos de interesses, a que chama de crises jurídicas, em três categorias: (a)Crise de certeza: quando há conflito de interesses entre as partes, que necessitam valer-se do Poder Judiciário para obter provimento (decisão) acerca da existência ou não de uma relação jurídica ou ocorrência ou não de um fato juridicamente relevante (fato que produza efeitos jurídicos, com previsão no ordenamento); (b) Crise de situação jurídica: que é aquela em que as partes em conflito necessitam obter um pronunciamento judicial para crie/constitua uma nova situação jurídica, modificando juridicamente situação anterior; e (c) Crise de cooperação ou adimplemento ou descumprimento: quando se configura a necessidade de se obter do Judiciário o cumprimento de uma norma, decisão ou relação jurídica inadimplida" (Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 73, fev 2010. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7249 ).
Christian Meier, The History of Political and Social Concepts : A Critical Introduction, Oxford University Press, 1995, p. 33 [Apud Aphelis (fr.), onde se leem muitas informações sobre essa conferência de Agamben em Atenas [NTs].
Não é possível - e em todos os casos não é desejável - traduzir esse parágrafo ao português do Brasil, sem ter conhecimento profundo das definições jurídicas de cada um desses termos, em poruguês e nos estudos jurídicos locais (conhecimento que não temos). Deixamos então aqui o parágrafo em inglês, único a que tivemos acesso, na esperança de que apareçam melhores traduções, todas bem-vindas:
"All we can say is that when the so called «Science of the police» first appears in XVIII century, the «police» is brought back to its etymology from the Greek «politeia» and opposed as such to «politics». But it is surprising to see that Police coincides now with the true political function, while the term politics is reserved to the foreign policy. Thus Von Justi, in his treatise on Policey Wissenschaft, calls Politik the relationship of a State with other States, while he calls Polizei the relationship of a State with itself. It is worthwhile to reflect upon this definition: (I quote): «Police is the relationship of a State with itself»[NTs].
Walter Benjamin, "Para uma crítica da violência", Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921), trad. Susana Kampff Lages e Ernani Chaves, org. Jeanne Marie Gagnebin, Apres. e notas Jeanne Marie Gagnebin, Col. Espírito Crítico, São Paulo: Duas Cidades/Ed.34 (coeditoras), 2011 - 1ª edição; 2013 - 2ª edição (ing.PDF).
"Benjamin se utiliza do termo gewalt, que na tradução brasileira aparece às vezes como "violência", às vezes como "poder". A ambiguidade do termo em alemão, obviamente, é de fundamental importância para o entendimento do ensaio" [NTs].
"A tradição dos oprimidos nos ensina que o 'estado de exceção' em que vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a esta verdade. Nesse momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção (BENJAMIN, 2011, p. 226)."
No orig. "masters". Outros usam outras expressões, "os quatro libertinos", os "monstros" e outras menos 'educadas'. No filme, eles mesmos se chamam de "os quatro amigos", expressão aqui preferida [NTs, com infomações de (ing.) Jim's Review (excelente)].
16/11/2013, Giorgio Agamben, Conferência Pública, Atenas, Grécia
A convite do Instituto Nicos Poulantzas e do Partido SYRIZA Jovem (In: Greek Left Review, 10/2/2014)
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter