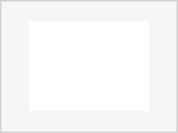O impensável aconteceu
O Estado deixou de ser o problema para voltar a ser a solução; cada país tem o direito de fazer prevalecer o que entende ser o interesse nacional contra os ditames da globalização; o mercado não é, por si, racional e eficiente, apenas sabe racionalizar a sua irracionalidade e ineficiência, enquanto estas não atingirem o nível de autodestruição.
Boaventura de Sousa Santos
A palavra não aparece na mídia norte-americana, mas é disso que se trata: nacionalização. Perante as falências ocorridas, anunciadas ou iminentes, de importantes bancos de investimento, das duas maiores sociedades hipotecárias do país e da maior seguradora do mundo, o governo dos EUA decidiu assumir o controle direto de uma parte importante do sistema financeiro.
A medida não é inédita, pois o Governo interveio em outros momentos de crise profunda: em 1792 (no mandato do primeiro presidente do país); em 1907 (neste caso, o papel central na resolução da crise coube ao grande banco de então, J.P. Morgan, hoje, Morgan Stanley, também em risco); em 1929 (a grande depressão que durou até à Segunda Guerra Mundial: em 1933, 1000 norte-americanos por dia perdiam as suas casas a favor dos bancos); e em 1985 (a crise das sociedades de poupança).
O que é novo, na intervenção em curso, é a sua magnitude e o fato de ela ocorrer ao fim de trinta anos de evangelização neoliberal, conduzida com mão-de-ferro em nível global pelos EUA e pelas instituições financeiras por eles controladas, FMI e o Banco Mundial: mercados livres e, porque livres, eficientes; privatizações; desregulamentação; Estado fora da economia porque inerentemente corrupto e ineficiente; eliminação de restrições à acumulação de riqueza e à correspondente produção de miséria social.
Foi com estas receitas que se resolveram as crises financeiras da América Latina e da Ásia e que se impuseram ajustamentos estruturais em dezenas de países. Foi também com elas que milhões de pessoas foram lançadas ao desemprego, perderam suas terras ou seus direitos laborais, tiveram de emigrar.
À luz disto, o impensável aconteceu: o Estado deixou de ser o problema para voltar a ser a solução; cada país tem o direito de fazer prevalecer o que entende ser o interesse nacional contra os ditames da globalização; o mercado não é, por si, racional e eficiente, apenas sabe racionalizar a sua irracionalidade e ineficiência, enquanto estas não atingirem o nível de autodestruição; o capital tem sempre o Estado à sua disposição e, consoante os ciclos, ora por via da regulação, ora por via da desregulação. Esta não é a crise final do capitalismo e, mesmo se fosse, talvez a esquerda não soubesse o que fazer dela, tão generalizada foi a sua conversão ao evangelho neoliberal.
Muito continuará como dantes: o espírito individualista, egoísta e anti-social que anima o capitalismo; o fato de que a fatura das crises é sempre paga por quem nada contribuiu para elas, a esmagadora maioria dos cidadãos, já que é com seu dinheiro que o Estado intervém e muitos perdem o emprego, a casa e a pensão.
Mas, muito mais mudará. Primeiro, o declínio dos EUA como potência mundial atinge um novo patamar. Este país acaba de ser vítima das armas de destruição financeira massiva com que agrediu tantos países nas últimas décadas e a decisão soberana de se defender foi afinal induzida pela pressão dos seus credores estrangeiros (sobretudo chineses) que ameaçaram com uma fuga que seria devastadora para o atual American way of life.
Segundo, o FMI e o Banco Mundial deixaram de ter qualquer autoridade para impor as suas receitas, pois sempre usaram como bitola uma economia que se revela agora fantasma. A hipocrisia dos critérios duplos (uns válidos para os países do Norte global e outros válidos para os países do Sul global) está exposta com uma crueza chocante. Daqui em diante, a primazia do interesse nacional pode ditar, não só proteção e regulação específicas, como também taxas de juro subsidiadas para apoiar indústrias em perigo (como as que o Congresso dos EUA acabam de aprovar para o setor automóvel).
Não estamos perante uma desglobalização, mas estamos certamente perante uma nova globalização pós-neoliberal, internamente muito mais diversificada. Emergem novos regionalismos, já hoje presentes na África e na Ásia, mas, sobretudo, importantes na América Latina, como o agora consolidado com a criação da União das Nações Sul-Americanas e do Banco do Sul. Por sua vez, a União Européia, o regionalismo mais avançado, terá que mudar o curso neoliberal da atual Comissão sob pena de ter o mesmo destino dos EUA.
Terceiro, as políticas de privatização da segurança social ficam desacreditadas: é eticamente monstruoso que seja possível acumular lucros fabulosos com o dinheiro de milhões de trabalhadores humildes e abandonar estes à sua sorte quando a especulação dá errado. Quarto, o Estado que regressa como solução é o mesmo Estado que foi moral e institucionalmente destruído pelo neoliberalismo, o qual tudo fez para que sua profecia se cumprisse: transformar o Estado num antro de corrupção.
Isto significa que, se o Estado não for profundamente reformado e democratizado, em breve será, agora sim, um problema sem solução. Quinto, as mudanças na globalização hegemônica vão provocar mudanças na globalização dos movimentos sociais que vão certamente se refletir no Fórum Social Mundial: a nova centralidade das lutas nacionais e regionais; as relações com Estados e partidos progressistas e as lutas pela refundação democrática do Estado; contradições entre classes nacionais e transnacionais e as políticas de alianças.
Boaventura de Sousa Santos é sociólogo e professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (Portugal)
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter