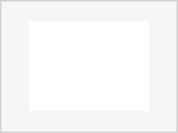Dignidade do ser humano - Liberdade e Justiça
Por Fábio Konder Comparato
Tendo sido convidado a proferir a palestra de abertura desta III Conferência Internacional de Direitos Humanos, cujos trabalhos irão desenrolar-se sobre o tema geral Um Mundo Livre: Desenvolvimento e Vida com Dignidade, pareceu-me adequado lançar um olhar panorâmico sobre o grau de respeito à dignidade da pessoa humana no mundo de hoje. Decidi, para tanto, tratar do assunto à luz do fenômeno do abuso de poder, em função do qual tem-se desenrolado toda a experiência de construção de um sistema mundial de direitos humanos, ao longo da História.
Como tem sido há muito salientado, não existe uma só modalidade de poder, na sociedade, mas várias, de diversas naturezas, as quais se combinam numa espécie de constelação, organizada em torno de um astro dominante.
Na antiguidade, esse poder central sempre foi o religioso. Já na Idade Moderna, a realidade social tornou-se mais complexa, dando ensejo ao surgimento de três espécies principais de poder: o militar, o econômico e o tecnológico. São eles os componentes essenciais da dominação capitalista, como acentuarei mais adiante.
O mais importante a considerar, numa reflexão sobre os direitos humanos, é que nenhum poder se mantém, se estiver despido de legitimidade, isto é, do reconhecimento, pela consciência ética coletiva, da importância da função social por ele exercida. O sentimento de abuso de poder, gerador da rebeldia, nasce, justamente, dessa perda de legitimidade, que transforma o poder de direito em pura dominação de fato. Rousseau, logo no início do Contrato Social, exprimiu essa verdade de forma muito feliz. O mais forte, disse ele, não é nunca bastante forte para permanecer sempre no poder (pour être toujours le maître), se não faz da sua força um direito e da obediência um dever.
O que se procura demonstrar, na presente exposição, é que o sistema de poder engendrado pelo capitalismo na Idade Moderna, e fundado na combinação de poder econômico, militar e tecnológico, tornou-se, hoje, claramente ilegítimo. Vivemos um momento decisivo na História, em que os homens e mulheres eticamente bem formados do mundo inteiro são convocados a coordenar eficientemente seus esforços para vencer o capitalismo, e construir, com base nos princípios fundamentais da Verdade, da Justiça e do Amor, aquela nova sociedade universal do gênero humano, a que se referiu Cícero há mais de vinte séculos.
Vejamos, porém, preliminarmente, num rápido escorço, como surgiu historicamente o sistema de dominação capitalista.
A dominação mundial do capitalismo
O desaparecimento da sociedade estamental da antiguidade deu lugar, primeiro no Ocidente e depois no mundo inteiro, à criação da sociedade de classes, onde as pessoas são declaradas iguais perante a lei, ou seja, já não se distinguem juridicamente pelo seu status pessoal nobre, clérigo ou plebeu , muito embora possam ser radicalmente desiguais quanto à sua situação patrimonial. Aos antigos privilégios estamentais, que subordinavam a plebe ao patriciado, ou submetiam o povo o vulgo vil sem nome de Camões à nobreza e ao clero, sucedeu uma separação, sempre mais pronunciada ao longo do tempo, entre ricos e pobres, todos indistinta e falsamente considerados iguais no campo do Direito.
Ao mesmo tempo, a sociedade moderna inaugurou a separação entre vida pública e vida privada, que o mundo antigo e a sociedade medieval européia jamais conheceram. À antiga divisão entre sociedade civil e sociedade eclesiástica, típica da Meia Idade, sucedeu a separação entre a esfera do Estado, como organização do poder político, e a sociedade civil, que passou a abranger também a vida religiosa.
Como bem salientou Benjamin Constant, na conferência tantas vezes citada que pronunciou no Ateneu Real de Paris em 1819, a noção de liberdade, para os antigos, era sinônimo de cidadania ativa: ela consistia na participação no governo da cidade. Em contrapartida, os governantes ocupavam-se também da vida particular dos cidadãos. O areópago, que foi nas origens o principal tribunal de Atenas, com competência notadamente para julgar os homicídios, passou depois a pronunciar-se sobre assuntos de moral privada. O censor romano, criado originalmente para proceder ao recenseamento dos homens adultos, suscetíveis de convocação para a guerra, tornou-se, em seguida, o magistrado encarregado de julgar o comportamento moral dos cidadãos na sua vida particular.
Com o advento da sociedade burguesa, a liberdade pública geral dos cidadãos passou a ser substituída por diversas liberdades específicas na esfera privada de religião, de reunião, de associação, de exercício profissional, ou de manifestação de pensamento. Elas atuariam como barreiras ao abuso da interferência estatal na vida particular das pessoas.
Seja como for, a partir dessa separação entre Estado e sociedade civil, o principal poder social deixou de ser o religioso, ou o nobiliárquico, fundado na tradição, e passou a ser o econômico, estribado na propriedade privada do capital empresarial. Para a burguesia, o essencial era garantir uma total liberdade de empresa. As demais liberdades tornaram-se de fato secundárias, podendo ser, em momentos de crise, sacrificadas para a salvaguarda daquela, como se viu em várias ocasiões.
De qualquer maneira, era preciso, porém, controlar o poder político, do qualtudodependia em última instância. Questão delicada, pois estando os empresários geralmente ocupados em tempo integral com os seus negócios, não tinham condições de exercer pessoalmente o governo. A solução encontrada foi introduzir a representação política, esvaziando-a de todo sentido efetivo, pela eleição indireta e o voto censitário.
Corromperam-se, com isso, as velhas noções de república e democracia. A primeira, de regime político em que o bem comum do povo (o sentido lídimo da expressão latina res publica) sobrepõe-se ao interesse particular de indivíduos ou grupos, transformou-se simplesmente no sistema no qual ninguém tem direito inato à chefia de Estado ou chefia de governo. Democracia, por sua vez, na Idade Moderna, já não designa o regime no qual o povo toma diretamente as grandes decisões políticas e controla a atividade administrativa dos agentes governamentais, mas sim aquele em que o povo limita-se a eleger representantes, que de fato assumem e exercem a soberania em lugar dele.
Se assim sucedeu com o poder político, no campo do poder econômico, como Marx foi o primeiro a perceber, a grande transformação consistiu na apropriação do saber tecnológico pela burguesia, que dele fez o principal fator de produção. Foi com base nesse monopólio da tecnologia que a classe empresarial pôde, em pouco tempo, criar mercados nacionais unificados, dentro de cada país, e lançar em seguida a segunda vaga de expansão imperialista mundial, na Ásia e na África.
No Manifesto Comunista, Marx e Engels sustentaram que a expansão mundial do capitalismo ocorreria sem o recurso à força militar. O preço reduzido de suas mercadorias, declarou o Manifesto, é a grossa artilharia com a qual ela (a burguesia) demole todas as muralhas da China e obtém a capitulação dos bárbaros mais teimosamente xenófobos. Essa visão pacífica da conquista do mundo pelos métodos comerciais já havia, contudo, sido cruamente desmentida, desde as primeiras aventuras coloniais do século XVI, pela santa aliança da burguesia empresarial com a nobreza militar e os missionários cristãos.
Na verdade, o poderio militar ocidental, que propiciou a colonização dos mais diferentes povos em outras partes do mundo, foi o fruto da aplicação da tecnologia à arte da guerra. Os milhões de astecas, maias e incas foram todos em pouco tempo subjugados por um punhado de europeus, que portavam armas de fogo e montavam cavalos, animal desconhecido dos povos americanos. Desde 1861 e 1866, quando foram inventadas, respectivamente, a metralhadora e a dinamite, as invenções para fins bélicos multiplicaram-se de modo vertiginoso, e o complexo industrial-militar desencadeou, sob a falsa aparência de obra civilizadora (ou cultural, como preferem qualificar os alemães), a primeira globalização moderna, com fundamento no poder colonial.
No século XX, com a ocorrência de duas guerras mundiais, e entre elas a constituição da União Soviética e a grande depressão dos anos 30, tornou-se patente que o projeto de dominação global do capitalismo só podia prosseguir com uma alteração substancial nos seus métodos de atuação.
Essa alteração consistiu em substituir a relação de domínio territorial, que vigorou desde as primeiras experiências imperiais, pela constituição de um poder de controle, em tudo e por tudo análogo àquele que os empresários capitalistas já haviam instaurado nas macro-sociedades mercantis, e que separa os acionistas, proprietários nominais do capital, dos que efetivamente mandam na empresa, ainda que não-acionistas. As grandes potências abriram mão de suas colônias e instauraram um sistema de dominação indireta sobre os países da periferia, graças ao monopólio dos recursos financeiros, da capacidade de consumo e da propriedade intelectual sobre as técnicas de produção; sem, contudo, deixar de recorrer, como ultima ratio, à intervenção militar.
Ora, com o colapso da União Soviética, esse poder bélico foi praticamente monopolizado pelos Estados Unidos. Os gastos militares norte-americanos são hoje de 500 bilhões de dólares anuais, ou seja, uma quantia mais elevada do que a soma dos gastos dos 12 países que se seguem na escala mundial. Até agora, o poder militar atuou como auxiliar direto do poder empresarial. Hoje, essa relação acha-se invertida: a organização empresarial como um todo passa a submeter-se ao poder militar instalado, que sobrevive sem uma função política claramente determinada, a não ser a manutenção do poder imperial.
O resultado disso tudo é que os chamados direitos humanos da primeira geração são aniquilados, toda vez que o poderio militar norte-americano é confrontado, como ocorre hoje com o terrorismo internacional.
Reagindo aos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington, os Estados Unidos organizaram de imediato uma espécie de contra-terrorismo repressivo, de âmbito transnacional.
Em poucas semanas, o Congresso votou uma lei celerada, o Patriot Act, para suprimir direitos e garantias tradicionais do indivíduo suspeito de simplesmente preparar o cometimento de crimes contra a segurança coletiva. Estendendo a prática do off-shoring empresarial à ação política, o governo do presidente George W. Bush criou o sistema de contratar, no estrangeiro, a submissão de suspeitos de terrorismo a interrogatórios sob tortura. As vítimas são seqüestradas em qualquer parte do mundo, e desde logo encaminhadas a determinados países, contratados para o exercício desse trabalho sujo.
Em seguida, são elas recolhidas à base militar de Guantánamo, em Cuba, para lá permanecerem anos a fio em confinamento absoluto, sem direito à assistência de advogados e submetidas a toda sorte de maus tratos.
O mesmo ocorreu com os prisioneiros iraquianos, após a ocupação militar do país pelos Estados Unidos, na mal camuflada operação de apossamento das suas reservas petrolíferas.
O governo norte-americano chegou até mesmo a criar tribunais militares de exceção para julgar os prisioneiros, sem o menor respeito aos tradicionais direitos de defesa, declarados no Bill of Rights britânico de 1689, e reproduzidos nas Declarações de Direitos da Revolução Americana um século depois. Em decisão de 29 de junho último, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou que esses tribunais ad hoc são incompatíveis com o sistema constitucional norte-americano.
Para suprema ignomínia de nossa categoria profissional, consultores jurídicos das Forças Armadas norte-americanas tiveram o despudor de sustentar, em pareceres cujo texto sigiloso acabou sendo desvendado, que os indivíduos encarcerados nessas operações de guerra qualificavam-se como non-State actors e, portanto, não gozavam da proteção dispensada pela terceira Convenção de Genebra, de 1949, sobre o tratamento de prisioneiros de guerra. Felizmente, a Corte Suprema dos Estados Unidos rejeitou essa tese absurda, em decisão de 7 de julho p.p.
Em outro parecer, um Assistant Attorney General do governo americano afirmou que determinadas práticas de interrogatório, embora reconhecidamente cruéis, desumanas ou degradantes, não poderiam ser caracterizadas como tortura, pelo fato de não produzirem a dor física ou o sofrimento mental requeridos para tanto, não se devendo, em conseqüência, aplicar-se as disposições da Convenção contra a tortura, aprovada pelas Nações Unidas em 1984, nem tampouco o disposto no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, qualificando a tortura como crime contra a humanidade. Ressalte-se, aliás, que os Estados Unidos não subscreveram esse Estatuto e fizeram pressão sobre vários países para que não o subscrevessem.
Tais episódios chocantes deveriam incitar a nossa categoria profissional a rever as tradicionais disposições dos Códigos de Ética da Advocacia, que geralmente são omissos quanto à atividade de consultoria jurídica perante o Poder Público.
No último quartel do século XX aconteceu o que poucos ousavam imaginar: a União Soviética esfacelou-se, e os novos países independentes que daí emergiram, assim como a China, converteram sua organização econômica aos padrões ortodoxos do sistema capitalista. Comprovou-se assim, uma vez mais, a experiência de que o capitalismo sabe perfeitamente conviver com a negação total dos chamados direitos humanos da primeira geração.
Concomitantemente, procedeu-se a um ataque em regra contra os direitos humanos de natureza econômica, social e cultural.
Num livro quase panfletário, publicado em 1942, The Road to Serfdom, Friedrich Hayek lançou o primeiro grito de guerra contra a democracia e o Welfare State. Duas teses foram desde então marteladas: 1. a democracia ameaça a liberdade; 2. o Estado Social ameaça tanto a liberdade, quanto a democracia. O ataque redobrou de intensidade em novo livro, publicado em 1960, The Constitution of Liberty.
Tratava-se, na verdade, do manifesto inaugural do que se veio ao depois denominar neoliberalismo. O que se sustentou e propagou a partir dos anos 70 do século passado, com o êxito que todos sabem, foi que os gastos públicos com saúde, educação, previdência e assistência social são um processo altamente irracional, sob o aspecto da coerência administrativa e da estabilidade fiscal, pois conduziriam os Estados à insolvência permanente. O argumento foi astucioso: em lugar de se dizer que o aumento dos gastos públicos com políticas sociais solapa o capitalismo, alardeou-se que tais despesas, pelos seus efeitos inflacionários, constituíam uma séria ameaça ao regime democrático. Essa ameaça consistiria em que o Estado Social carece intrinsecamente de governabilidade: os governos já não contariam com os recursos financeiros indispensáveis para fazer atuar os serviços públicos básicos. Em suma, o atendimento dos direitos econômicos e sociais dos cidadãos conduziria o Estado à falência.
Como bem demonstrou entre nós Celso Furtado (Brasil A construção interrompida), essa acusação dos ideólogos neoliberais representou o estratagema típico do caluniador: o adversário é acusado de cometer exatamente o mesmo delito que o acusador se prepara para praticar, ou já pratica. Os países da periferia do mundo capitalista e até mesmo algumas grandes potências foram constrangidas, para manter acesso ao mercado global, a deixar praticamente de operar políticas monetárias ou fiscais, além de se desfazerem do controle de empresas estatais estratégicas (a chamada política de privatização). Ou seja, os países mais pobres e débeis viram-se condenados a não mais realizar políticas macroeconômicas, pelo abandono dos instrumentos indispensáveis para tanto. Doravante, o mercado incumbir-se-ia de tudo, inclusive da regulação das relações de trabalho assalariado; de onde a propaganda mundial em favorda chamadaflexibilização das leis trabalhistas, vale dizer, a supressão do direito do trabalho.
Uma das conseqüências mais marcantes da aplicação dessas medidas foi a progressiva transformação das sociedades multinacionais em empresas transnacionais. As primeiras instalam-se em diversos países e submetem-se à legislação local em todas as matérias, notadamente no que diz respeito às relações de trabalho, à concorrência e à proteção do meio ambiente. Já as transnacionais operam no mundo todo, não mediante investimentos locais, mas por meio da criação de uma rede de fornecedores, montadores e distribuidores, a ela ligados por contrato, e substituíveis a qualquer tempo.
No início do século XXI, calculou-se que o volume global de negócios das 150 maiores empresas multinacionais e transnacionais superava o PIB de 150 países, e equivalia a quase 30% do produto mundial.
Ora, à medida que encolhia o poder dos Estados pobres de intervir nos seus mercados internos, assistiu-se a um reforço considerável do poder de regulação econômica dos organismos internacionais, sob controle das grandes potências. O FMI passou a condicionar seus financiamentos à aceitação de programas ditos de ajuste estrutural.
Quanto à Organização Mundial do Comércio (OMC), que assumiu em 1994 a sucessão do GATT, ela impôs medidas de liberalização comercial e de respeito amplo aos direitos de propriedade intelectual, medidas essas que acabaram por suprimir, de fato, a margem de manobra dos países pobres no estabelecimento de políticas de desenvolvimento nacional, ao mesmo tempo em que provocavam uma transferência importante de recursos financeiros desses países, em proveito das grandes potências econômicas. Estima-se, assim, que a economia norte-americana se beneficia, com o recebimento de royalties pelas empresas sediadas nos Estados Unidos, de recursos monetários 13 vezes superiores aos obtidos com base na redução das tarifas de importação no estrangeiro.
Concomitantemente, o conjunto dos países ricos e industrializados continua a proteger os seus agricultores, por meio de subsídios e restrições à importação de produtos agrícolas dos países subdesenvolvidos.
A esse quadro sombrio devem-se ainda acrescer os efeitos perversos provocados pela política de alto endividamento público, nesta fase de apogeu do capitalismo financeiro. Ela penaliza gravemente, em cada país, os estratos mais pobres da população, sobre os quais recai o peso maior dos impostos necessários ao pagamento da dívida; ao passo que as camadas mais ricas passam a ter uma apreciável renda financeira, com a aquisição dos títulos correspondentes. Ela penaliza também, gravemente, os países mais pobres, diante dos credores internacionais. Em ambos os casos, produz-se um efeito de descapitalização, que compromete o crescimento econômico. Como salientou a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), em seu Relatório de 2004, são os países pobres que sustentam financeiramente a parte mais rica do planeta, e não o contrário.
Em meados do século XIX, quando Marx desenvolveu a sua reflexão crítica, para que a atividade empresarial engendrasse lucros era necessário produzir para o mercado. O lucro dependia da produção, e esta do trabalho assalariado, cuja exploração, pelo mecanismo da mais-valia, engendrava, segundo ele, a acumulação do capital.
Com o advento do capitalismo financeiro, a situação mudou inteiramente. A rentabilidade das empresas industriais depende, sempre mais, de sua capacidade de dispensar a mão de obra assalariada. Por diversas vezes, o índice médio de cotação dos valores mobiliários em Bolsa sobe, em exata correlação com o anúncio de um aumento do desemprego no país. No Brasil, o emprego formal de trabalhadores decresceu quase 80% (mais exatamente, 78,4%) nos últimos 12 anos.
Um mundo em desagregação
As conseqüências dessa abusiva dominação mundial do capitalismo foram devastadoras. Assinalemos algumas delas, apenas.
Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial dispunham de uma renda média 30 vezes superior aos 20% mais pobres. Em 1997, essa proporção já havia mais do que dobrado 74 para 1 , e nos primeiros anos do século atual passou a ser de 80 para 1.
Embora seja possível produzir alimentos para nutrir o dobro da população mundial, na virada do século os técnicos das Nações Unidas verificaram que havia 800 milhões de pessoas afetadas pelo flagelo da fome, estimando-se que 36 milhões morreram no ano de 2000, em razão direta da fome ou de suas conseqüências imediatas. No Relatório do Desenvolvimento Humano de 2004, os mesmos técnicos indicaram que o número de pessoas subnutridas no mundo havia aumentado para 831 milhões, ou seja, cerca de 14% da população mundial.
De sua parte, a Organização Mundial do Trabalho informa que metade dos trabalhadores, no mundo todo, vive na faixa convencional de pobreza, isto é, percebe um salário de menos de dois dólares por dia, sendo que 20% deles classificam-se como miseráveis, ao receberem um salário diário inferior a 1 dólar. Isto, sem contar a legião dos desempregados, que aumenta ano a ano.
Mais de um bilhão de pessoas não têm acesso a abastecimento de água potável adequado e quase 3 bilhões, ou seja, praticamente a metade da humanidade, não dispõem de infra-estrutura de saneamento. A água potável torna-se rapidamente umbem escasso,pois o seu consumo aumenta em 20% a cada dez anos, desde 1960. Ao mesmo tempo, porém, eleva-se consideravelmente o número de concessões a empresas privadas em geral, multinacionais , para a exploração de reservas de água.
Um programa de mundialização humanista
Neste início do segundo milênio da era cristã, a humanidade vive um momento decisivo de sua evolução histórica. Trata-se de saber se o mundo todo permanecerá sob a dominação do capitalismo, com as conseqüências desastrosas que acabam de ser apontadas, ou se conseguiremos construir para toda a humanidade uma nova sociedade, livre, justa e solidária.
É nessa segunda perspectiva, que os profissionais do direito são convocados a atuar, no mundo inteiro.
Vejamos, portanto, em suas grandes linhas, o programa dessa mundialização humanista.
O seu quadro institucional deve obedecer a uma diretriz básica, que é a estrita regulação do exercício do poder, sob qualquer de suas modalidades. Importa, com efeito, não esquecer a sábia advertência de Montesquieu: todo aquele que detém um poder, ainda que diminuto, é levado a dele abusar. Ele vai até onde encontra limites. Quem diria! Até a virtude tem necessidade de limites.
Ora, esses limites indispensáveis ao exercício do poder, em todos os níveis, são de ordem funcional e estrutural.
A função última do poder político, que é o mais abrangente de todos, consiste em realizar o bem comum do povo, na esfera nacional, e o bem comum da humanidade, na esfera internacional. É o princípio republicano.
Já os limites estruturais do exercício do poder ligam-se ao estrito cumprimento de suas regras de competência hierárquica, com o respeito absoluto, mesmo pelo detentor da soberania, dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nesse particular, o regime democrático representa, hoje, a culminância do sistema de regulação do poder, com fundamento na proteção da dignidade humana.
No plano mundial, o princípio republicano se concretiza em três instituições básicas.
A primeira delas é o estabelecimento de um regime comunitário para os bens que constituem patrimônio da humanidade, abolindo-se toda forma de apropriação particular ou estatal. Que bens são esses?
Em primeiro lugar, obviamente, o genoma da espécie humana. Embora declarado patrimônio da humanidade pela UNESCO em 1999, há centenas de pedidos de patente sobre seqüências do genoma humano, depositados em alguns países.
Em segundo lugar, não podem ser objeto de apropriação os recursos naturais não renováveis do planeta, e indispensáveis à sobrevivência da humanidade, ou cuja falta é suscetível de ocasionar um verdadeiro colapso na vida social, como as fontes não renováveis de energia.
É de se ressaltar, nesse particular, que a Convenção sobre o Direito do Mar, assinada em 10 de dezembro de 1982 em Montego Bay, na Jamaica, declarou que constituem patrimônio da humanidade as riquezas minerais localizadas nos fundos marinhos e seu subsolo, além dos limites da jurisdição nacional. Por essa razão, alguns países, a começar pelos Estados Unidos, recusaram-se a assinar a Convenção, que só entrou em vigor em 1994, após a aprovação de um Acordo, que enfraqueceu sobremaneira aquelas disposições.
Nessa mesma linha de considerações, em aplicação do princípio republicano de supremacia do bem comum da humanidade sobre o interesse particular de quem quer que seja, dever-se-ia proibir a apropriação, para fins de exploração comercial, do conhecimento científico e tecnológico, ligado à preservação da vida ou da saúde humana. É o caso das invenções de substâncias medicamentosas destinadas ao tratamento de doenças graves ou letais. É de se lembrar, a esse respeito, a discussão travada na OMC em 2001, sobre a possibilidade de quebra de patentes dos medicamentos retrovirais no combate à aids. Convém lembrar que há atualmente cerca de 39 milhões de soropositivos no mundo, dos quais 24,5 milhões e meio na África. Trata-se claramente de uma epidemia que afeta, em sua quase totalidade, os países subdesenvolvidos.
Importa ressaltar, ainda, que a preservação das grandes áreas florestais do planeta é de interesse comum da humanidade. Os países em cujo território elas se encontram não deveriam, portanto, ser reconhecidos como seus proprietários, mas simplesmente como administradores, devendo responder no foro internacional pela sua omissão em impedir o desmatamento predatório.
Finalmente, no tocante à política mundial de alimentação, as suas diretrizes deveriam ser fixadas pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, e sua aplicação confiada à FAO Organização para a Agricultura e a Alimentação, a ser dotada de poderes acrescidos para intervir no mercado mundial de produtos alimentares.
No plano nacional, pelas mesmas razões já apontadas, os bens de interesse comum do povo, tais como as florestas, as reservas minerais ou de combustíveis, não deveriam ser objeto de apropriação particular. Quanto à questão agrária, a mais justa reforma consistiria na substituição da propriedade da terra por um direito de uso, vinculado à sua efetiva exploração.
Outro setor em que a apropriação de bens públicos resultou numa abolição prática de um direito fundamental, no caso o de informação e comunicação, numa sociedade de massas como a atual, é o dos meios de transmissão audiovisual. Eles são hoje dominados, majoritariamente, por organizações empresariais, que moldam em grande parte a opinião pública. Criou-se, com isso, uma lamentável confusão entre a liberdade de expressão e a liberdade de empresa. Um dos remédios encontrados para corrigir essa distorção é a instituição do chamado direito de antena, já reconhecido na Constituição portuguesa de 1976 (art. 40º, alínea 1) e na Constituição espanhola de 1978 (art. 20, alínea 3), o qual dá a grupos sociais relevantes o direito de livre acesso ao rádio e à televisão.
Além disso, deve-se ressaltar que a generalizada prática da concessão de serviços públicos a empresas privadas é incompatível com um verdadeiro regime republicano. A busca de lucro empresarial não se coaduna com o serviço do povo.
Por fim, ainda no quadro de uma república autêntica, compete primacialmente a todos nós, profissionais do direito, envidar esforços para criar novos instrumentos de garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade de políticas públicas, que violem os direitos fundamentais declarados na Constituição.
Tudo isso quanto ao princípio republicano.
Consideremos agora o princípio democrático. Ele se funda no reconhecimento de que a soberania, ou poder supremo, pertence ao povo, na esfera nacional, ou ao conjunto dos povos, no plano internacional, com o respeito integral aos direitos humanos. O verdadeiro Estado Democrático de Direito é, pois, aquele no qual todos os poderes, inclusive a soberania, são limitados, para a melhor proteção da dignidade humana.
Mas soberania não se confunde com o governo. Ela é, na verdade, o poder de controle sobre todas as instâncias governamentais, controle esse consistente na competência exclusiva para tomar as decisões concernentes ao futuro da nação, ou da humanidade, e de responsabilizar os governantes ou Estados que as descumprem.
No plano nacional, a soberania assim entendida pertence obviamente ao povo. Ela deve, portanto, manifestar-se, não só por meio do sufrágio eleitoral, mas também pelo exercício de plebiscitos, de referendos e da iniciativa popular de leis e mudanças constitucionais, bem como pela ampla competência para o ajuizamento de ações populares ou ações civis públicas.
Foi exatamente por essa razão que a Campanha Nacional em Defesa da República e da Democracia, lançada pela Ordem dos Advogados do Brasil e ora incorporada pelo Fórum Nacional de Reforma Política, principiou pelo oferecimento de projetos de lei destinados a desbloquear e ampliar o uso de plebiscitos e referendos, de reforçar as iniciativas populares de leis e emendas constitucionais, bem como de aperfeiçoar a representação popular com a instituição do referendo revocatório de mandatos eletivos.
Mas a aplicação do princípio democrático é também indispensável e urgente na ordenação das relações internacionais, marcadas atualmente pela dominação oligárquica.
A Organização das Nações Unidas, como sabido, tem suas atribuições principais de manutenção da paz limitadas pela composição do Conselho de Segurança, onde cinco países detêm assento permanente, com poder de veto. Os demais órgãos, a começar pela Assembléia Geral, brilham pela impotência. O mesmo se diga da Corte Internacional de Justiça, em razão da cláusula de reconhecimento facultativo de sua jurisdição.
Como se isso não bastasse, seis países Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália resolveram criar, em 1975, uma espécie de governo mundial paralelo. Esse grupo foi ampliado em 1976 com o ingresso do Canadá e em 1997 com a Rússia.
Para pôr fim a essa ordem oligárquica, é preciso reformar a Carta das Nações Unidas, regulando democraticamente a soberania e a competência dos seus órgãos.
Quanto à soberania, é indispensável reconhecer que ela há de pertencer, no plano internacional, aos povos ou nações, e não aos Estados. Em conseqüência, o pressuposto fundamental para que um Estado (ou uma federação de Estados) seja membro da ONU deveria ser a sua estrutura democrática, ou seja, a existência de órgãos de governo efetivamente delegados do povo.
Quanto ao funcionamento da ONU, u ma das mais graves carências é a completa impunidade para a violação das decisões de seus órgãos, notadamente o Conselho de Segurança. A primeira medida a se tomar, quanto a esse ponto, deveria ser a instituição da pena de suspensão , de pleno direito , do direito de voto, em todos os órgãos das Nações Unidas, do membro inadimplente, suspensão essa que perduraria até que ele viesse a cumprir o seu dever associativo.
No plano dos poderes de governo, dever-se-ia dar à Assembléia Geral o principal papel, o que implica uma reforma em profundidade das regras relativas à sua composição, competência e funcionamento.
Admitido o princípio da efetiva representatividade dos povos, e não apenas formalmente dos Estados, não se pode deixar de reconhecer que a representação de cada país, na Assembléia Geral, deve competir a pessoas eleitas diretamente pelo povo e não simplesmente indicadas pelo governo. Importa lembrar que essa regra já vigora no seio da União Européia, para a composição do Parlamento de Estrasburgo.
De acordo com o mesmo princípio de representatividade democrática, é insustentável manter em vigor a regra da igualdade de votos de todos os Estados nas reuniões da Assembléia Geral, como determinado pelo art. 18, alínea 1, da Carta das Nações Unidas. O peso demográfico não pode deixar de ser levado em consideração na regulação do sufrágio.
Mas, sobretudo, a Assembléia Geral deveria assumir uma função preponderante, deixando de ser mero fórum de debates, cujas resoluções têm apenas o valor de recomendações, aos seus membros e ao Conselho de Segurança (Carta, art. 10). Bem mais do que isto, ela deveria ser o verdadeiro poder legislativo do Estado mundial, votando as grandes normas que hão de constituir o futuro direito da humanidade, acima das legislações nacionais ou regionais.
Nesse sentido, as resoluções legislativas das Nações Unidas, votadas pela Assembléia Geral, notadamente os tratados em matéria de direitos humanos, deveriam entrar em vigor desde logo no mundo todo, independentemente de ratificação pelos Estados membros.
Quanto ao Conselho de Segurança, ele não deveria mais ser composto por membros permanentes, dotados do poder de veto.
Importa, porém, não esquecer que a tarefa de construção de uma democracia mundial completa-se, necessariamente, com a organização de um Poder Judiciário forte e autônomo. Nesse sentido, é indispensável abolir a cláusula de reconhecimento facultativo da jurisdição da Corte Internacional de Justiça, de modo que a nenhum membro das Nações Unidas seja lícito subtrair-se à jurisdição da Corte, sobrepondo o seu interesse próprio à realização da justiça no plano internacional.
É necessário, também, criar um tribunal internacional com ampla competência para conhecer e julgar os casos de violação de direitos humanos, bem como ampliar a competência do Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
Cumprir-se-ia, por esse modo, o grande programa ético que Montesquieu enunciou luminosamente, já na primeira metade do século XVIII:
Se eu soubesse de algo que fosse útil a mim, mas prejudicial à minha família, eu o rejeitaria de meu espírito. Se soubesse de algo útil à minha família, mas não à minha pátria, procuraria esquecê-lo. Se soubesse de algo útil à minha pátria, mas prejudicial à Europa, ou então útil à Europa, mas prejudicial ao gênero humano, consideraria isso como um crime.
Ainda abertas as inscrições para o I Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos
A Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República do Brasil, o Ministério da Educação , a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com apoio da Radiobrás e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizam no período de 30 de agosto a 2 de setembro, em Brasília, o I Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos .
Este Congresso visa a promover o intercâmbio entre diferentes países para debater o papel da educação em direitos humanos na contemporaneidade numa visão multicultural e pluralista.
Na ocasião, estarão reunidos na cidade especialistas nacionais e internacionais interessados na implementação de uma política de educação em direitos humanos no Brasil. O Congresso se apresenta como um momento para reflexão e análise de experiências significantes de Educação em Direitos Humanos desenvolvidas pelos diferentes atores sociais.
As inscrições para participar do Congresso estão abertas desde do dia 16 de agosto na página www.presidencia.gov.br/sedh .
Tecido Social
Jornal Eletrônico da Rede Estadual de Direitos Humanos - RN
Contato: tecidosocial@dhnet.org.br
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter