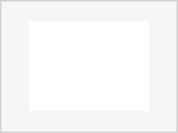D.João VI revisitado
No começo deste 2008, várias exposições em museus, arquivos e até shoppings centers comemoraram os 200 anos da abertura dos portos do Brasil às nações amigas. E o fizeram muito bem. Mas os organizadores esqueceram de avisar aos estudantes e todos aqueles que se interessaram pelas exposições que essas nações amigas a que o príncipe regente D. João (1767-1826) se referia em seu decreto não passavam de um subterfúgio, um eufeminismo, porque o que ele fizera fora mesmo franquear os portos brasileiros à Inglaterra.

Adelto Gonçalves (*)
I
No começo deste 2008, várias exposições em museus, arquivos e até shoppings centers comemoraram os 200 anos da abertura dos portos do Brasil às nações amigas. E o fizeram muito bem. Mas os organizadores esqueceram de avisar aos estudantes e todos aqueles que se interessaram pelas exposições que essas nações amigas a que o príncipe regente D. João (1767-1826) se referia em seu decreto não passavam de um subterfúgio, um eufeminismo, porque o que ele fizera fora mesmo franquear os portos brasileiros à Inglaterra.
Até porque, naquele ano, esse era o único Estado da Europa capaz de fazer frente ao poder de Napoleão Bonaparte (1769-1821), o corso francês que tinha todo o continente sob seu jugo como aliado ou protetorado. Afinal de contas, a Inglaterra, com sua possante marinha de guerra, protegera a saída estratégica da família real portuguesa de Lisboa rumo ao vice-reino do Brasil.
A rigor, os anos de 1808 a 1814 os portos do Brasil não estiveram abertos a nenhuma nação amiga, exceto à Inglaterra, que manteve verdadeiro monopólio mercantil sobre as terras lusas na América. E, mesmo quando em 1814 saiu um decreto que abolia certos privilégios aos comerciantes ingleses, a Inglaterra já estava armada com um vantajoso tratado comercial de 1810 e ocupara tantas posições estratégicas no mercado que, por muitos anos, continuaria a usufruir das muitas vantagens de um status de monopólio. Com isso, os Braganças pagavam com juros e mais juros o favor inglês que lhes permitiria uma sobrevida de mais de 80 anos no Novo Continente.
Quem quiser saber em detalhes o que foi esse tratado leonino tão hostil aos interesses de Portugal e do Brasil deve ler D.João VI no Brasil, de Oliveira Lima (1867-1928), que, lançado em 1908, ganhou em 2006 a sua quarta edição. Trata-se de um clássico da historiografia brasileira, bem documentado com pesquisas de arquivos, que se tornou modelo para estudos biográficos de monarcas brasileiros e que ainda hoje constitui um paradigma para aqueles que se aventuram no ofício de historiador.
II
Pouco lida, esta obra monumental, em cem anos, havia sido reeditada apenas em 1945 e 1996 e não teve força para derrubar o mito segundo o qual D.João era um príncipe medroso e bobão -- imagem que o historiador Oliveira Martins (1845-1894) pôs a andar e que ainda hoje só historiadores nada sérios ainda fazem questão de repetir, talvez no afã de conquistar leitores mais facilmente.
Oliveira Lima também contestou a imagem caricata da fuga da família real, mostrando com documentação que os planos de transferência da corte eram anteriores a 1807, fazendo assim a defesa da opção portuguesa numa altura em que nenhum monarca europeu imaginaria instalar-se no Novo Continente. E ainda mostrou os benefícios que a presença da corte trouxe para o Rio de Janeiro e para a emancipação do Brasil como nação.
Para Oliveira Lima, o reinado brasileiro de D.João foi ainda o único período de imperialismo consciente que registra a história brasileira, pois o avanço além dos limites do Tratado de Tordesilhas por aventureiros paulistas -- só mais tarde chamados de bandeirantes -- havia se dado de maneira instintiva, sem que houvesse uma estratégia planejada por parte do governo. Em resposta ao desaforo de Napoleão, D.João, de maneira deliberada, anexou a Guiana Francesa -- de que, depois, Portugal abriria mão no Congresso de Viena para reaver o perdido que era posse legítima e tradicional -- e a província Cisplatina, que o primeiro reinado independente também teve de sacrificar.
Enfim, mostrou que D.João, mesmo epiléptico e sofrendo de outros problemas de saúde, soube tomar as decisões necessárias nos momentos difíceis, diante das circunstâncias que as exígüas forças de seu reino permitiam. E que nada foi feito de afogadilho: até mesmo a anexação da Guiana e da Cisplatina foi uma decisão que já havia sido tomada em Lisboa, antes mesmo da saída da família real, com a concordância inglesa.
Além de mostrar que o príncipe regente soube se cercar de bons ministros, especialmente D.Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812), o conde de Linhares, o mais notável de seus auxiliares, Oliveira Lima antecipou o que só livros mais recentes da historiadora Francisca L.Nogueira de Azevedo -- Carlota Joaquina na corte do Brasil (Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003) e Carlota Joaquina: cartas inéditas (Rio de Janeiro, Editora Casa da Palavra, 2007) -- confirmaram documentalmente: o empenho da princesa na defesa da integridade dos domínios espanhóis na América depois da deposição dos Bourbons, o que também refaz a imagem caricata que a propaganda republicana construiu da consorte de D.João.
III
Oliveira Lima repete a informação do irlandês Thomas O´Neill, oficial da marinha britânica, testemunha ocular do embarque da comitiva de D.João em Lisboa (e do desembarque no Rio de Janeiro) segundo a qual 15 mil pessoas teriam acompanhado o príncipe regente em sua retirada. Mas, em várias passagens, desqualifica O´Neill, ao considerá-lo uma testemunha não inteiramente digna de fé desse acontecimento memorável.
A exemplo de Oliveira Lima, muitos historiadores têm repetido essa informação, mas nunca se preocuparam em ir ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANRJ) para conferir o registro da entrada dessa gente. O livro de O´Neill, escrito em 1810, acaba de ganhar nova edição: A vinda da família real portuguesa para o Brasil (Rio de Janeiro, José Olympio, 2007).
Nireu Cavalcanti, autor de O Rio de Janeiro setecentista (Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2004) foi o único historiador, até agora, que esteve no ANRJ para conferir essas listas. Fez as contas e concluiu que o número de pessoas que desembarcaram no Rio de Janeiro em 1808 e 1809 não passou de 444, entre as quais 60 membros da família real e da alta nobreza portuguesa que chegaram ao Rio de Janeiro nos dois anos em questão. Mas a maior parte dos historiadores ainda prefere se aferrar aos números de O´Neill porque, afinal, é mais fácil repetir o que já está impresso. E ninguém gosta de admitir erros ou corrigir equívocos.
O curioso é que Oliveira Lima repete também uma informação do britânico J. Luccock, que consta de Notes on Rio de Janeiro and the southern parts of Brazil; taken during a residence of ten years in that country from 1808 to 1818 (Londres, 1820) segundo a qual, por essa época, a população do Rio de Janeiro contava com um milhar de empregados públicos e outro milhar de dependentes da corte. Portanto, onde estariam os 15 mil que teriam vindo em 1808 e que seriam, na maioria, funcionários da monarquia?
IV
Em D.João VI no Brasil, Oliveira Lima se refere à página 233 a um Carlos José Guezzi, que seria um dos numerosos agentes confidenciais em Buenos Aires e Montevidéu de D.Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812), que sempre foi considerado maçom, embora tenha negado a condição várias vezes. Mas, como se percebe, o autor desconhecia quem era esse Guezzi.
Por isso, é bom que se acrescente que Carlos José Guezzi (nome aportuguesado) era um médico piemontês que foi físico-mor da capitania de Moçambique, Rios de Sena e Sofala e juiz da balança da alfândega da Ilha de Moçambique e que, já enriquecido com o tráfico de escravos, partiu em 1803 rumo ao Reino, com a intenção de, antes, negociar escravatura no Cabo da Boa Esperança, Rio de Janeiro e Montevidéu. Ao que parece, instalou-se no Cone Sul, tornando-se informante de D.Rodrigo, provavelmente, em razão de suas ligações maçônicas.
Em meio à briga política que tinha por objetivo resguardar os direitos de D.Carlota Joaquina sobre a América espanhola, a uma época em que o rei da Espanha fora apeado do poder por Napoleão, Guezzi foi preso em 1811 e remetido pelo governador de Buenos Aires para Cádiz, onde a regência o mandou soltar, depois que o ministro D.Pedro Sousa Holstein (1781-1850) reclamou a sua libertação. Aliás, como Guezzi, Sousa Holstein (depois Duque de Palmela) nascera em Turim e, a esse tempo, era embaixador de D.João em Madri.
Como curiosidade, pode-se dizer que Guezzi foi quem, em 1800, comprou do poeta Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), ex-ouvidor de Vila Rica e desterrado em Moçambique por sua participação na conjuração mineira de 1789, um palmar na Cabaceira Grande e não pagou, o que fez com que o prejudicado recorresse à Justiça. O palmar, na verdade, pertencera à avó materna de Juliana de Sousa Mascarenhas, mulher de Gonzaga. A Guezzi o poeta vendera também três escravos.
V
Um grande traficante negreiro de Moçambique, como Guezzi, foi Eleutério José Delfim, aquele que teria levado a credencial da maçonaria carioca para que José Joaquim da Maia e Barbalho (1757-1788), estudante em Montpellier, atrás do pseudônimo Vendek, procurasse o embaixador da América Setentrional em Paris, Thomas Jefferson, para discutir um possível apoio daquela jovem nação à luta pela independência de parte da América portuguesa, que se articulava em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Delfim matriculou-se em 1786 na Universidade de Montpellier, mas deve ter retornado ao Rio de Janeiro, pois há o registro de que embarcou na nau Conceição e São José rumo a Lisboa a 8/7/1788 (ANRJ, Avulsos do Rio de Janeiro, caixa 141, doc.61).
Em 1792, Delfim iria dar com o costado na Ilha de Moçambique e, em 1797, receberia a carta-patente de tenente-coronel do terço da infantaria auxiliar, cargo vago no ano de 1793 por morte de Alexandre Roberto Mascarenhas, sogro de Tomás Antônio Gonzaga.
Filho do comerciante carioca Antônio Delfim Silva, Eleutério seria bem recebido pela elite negreira da capitania, especialmente por brasileiros que já haviam estabelecido casas comerciais na Ilha para negociar escravatura. Foi a partir da chegada de Delfim, coincidência ou não, que teve início em larga escala o tráfico de escravos da contra-costa africana para o Rio de Janeiro e Montevidéu. Tudo controlado pelo capital mercantil carioca, que se tornaria o principal sustentáculo da monarquia lusa em solo brasileiro.
Já Francisco Álvaro da SilvaFreire, depois de perseguido em Portugal e no Rio de Janeiro, acusado de maçom, em 1802, obteria proteção da elite negreira de Moçambique e até um emprego no governo local. De forma surpreendente, a partir de 1804, acabaria por se transformar em agente secreto do príncipe regente em Paris, tal como Guezzi em Buenos Aires. Quem quiser saber mais a respeito de Silva Freire que leia o texto Francisco Álvaro da Silva Freire: comerciante portuense e maçom, do professor Alexandre Mansur Barata, da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG:
www.rj.anpuh.org/Anais/2004/Simposios%20Tematicos/Alexandre%20Mansur%20Barata.doc.
Delfim e Silva Freire não aparecem no livro de Oliveira Lima, mas por aqui se vê que há ainda muitos fios soltos que precisam ser atados para que se tenha um conhecimento mais aprofundado do que foi esse relacionamento dos grandes traficantes negreiros de Moçambique, ao final do século 18 e começo do 19, com os ministros do príncipe regente, cuja aproximação se dava pela sociabilidade maçônica.
____________________
D.JOÃO VI NO BRASIL , de Oliveira Lima, 4ª ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 790 págs., R$ 69, 2006. E-mail: topbooks@topbooks.com.br
__________________
(*) Adelto Gonçalves é doutor em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo e autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002) e Bocage o Perfil Perdido (Lisboa, Caminho, 2003). E-mail: adelto@unisanta.br
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter